 No meio de todo a lodo que nestes últimos dias se levantou do fundo dos fundos do fandom, quase se perdia aquele que é, provavelmente, o melhor e mais importante ensaio escrito em português sobre a natureza, o presente e o futuro daquilo a que, quantas vezes sem critério, costumamos referir-nos como Ficção Científica Portuguesa. Impõe-se por isso uma especial chamada de atenção para este brilhante post de Luís Filipe Silva, e uma invectiva a todos que me leiam para que sigam o link e meditem atentamente nas palavras e na chamada de atenção do Luís. Certamente não voltarão a encarar a questão da mesma forma após uma leitura atenta.
No meio de todo a lodo que nestes últimos dias se levantou do fundo dos fundos do fandom, quase se perdia aquele que é, provavelmente, o melhor e mais importante ensaio escrito em português sobre a natureza, o presente e o futuro daquilo a que, quantas vezes sem critério, costumamos referir-nos como Ficção Científica Portuguesa. Impõe-se por isso uma especial chamada de atenção para este brilhante post de Luís Filipe Silva, e uma invectiva a todos que me leiam para que sigam o link e meditem atentamente nas palavras e na chamada de atenção do Luís. Certamente não voltarão a encarar a questão da mesma forma após uma leitura atenta.Por minha parte, confesso que encontro ali, de forma clara e cristalina, aquilo que desde há anos para cá venho tentando expressar sem sucesso, após uma breve afloração ao tema na minha primeira coluna “Ácido Gástrico” nas extintas Brigadas FC. Nesse texto citei um ensaio que Elizabeth Vonarburg publicou na New York Review of Science Fiction #57 (Maio de 1993), com o sugestivo título So You Want to Be a Science Fiction Writer?, onde a dado passo se pode ler “when you are not an American science fiction writer, and not a native English speaker writing science fiction, all you can do is write either WITH or AGAINST the American and British science fiction traditions – what you know of them”.
São palavras que continuo a subscrever inteiramente, tal como agora subscrevo inteiramente a opinião do LFS. Mas gostava de acrescentar algo a esta minha subscrição sem reservas: é que o Luís Filipe Silva toca aqui num ponto tão óbvio, tão intuitivo, que raramente é referido, compreendido e reflectido. O facto de a Ficção Científica ser uma semântica e uma gramática essencialmente Americanas. Todas as outras ficções científicas, são apenas traduções desse Ur-text essencial. É, obviamente, uma contingência histórica: a ficção científica Americana enquanto género literário como inicialmente definido por Hugo Gernsback em 1926 nasce da confluência e cristalização das suas raízes de origem francesa (Verne), inglesa (Wells) e norte-americana (Poe). E dessas primeiras frases trans/internacionais, criou-se essa nova linguagem que é a Ficção Científica que, como o Luís certeiramente sugere, é sempre acompanhada do apodo invisível “americana”. E é-o por força da uma das suas característica essenciais, para a qual Frederik Pohl chamara a atenção ainda nos anos 50 e que Barry N. Malzberg tão eloquentemente sintetiza também no seu ensaio Science Fiction as Picasso (1980), incluído no seu histórico volume BREAKFAST AMONG THE RUINS: “Science Fiction, Fred Pohl has said, is the only genre where collaboration is commonplace, in which collaborative works of quality are prevalent because science fiction is a pool of ideas, a manner of approach; writers function less from their idiosyncratic vision (as is the case in «serious» literature) or their ability to recombine elements of the form (the mystery and the western) then from their immersion in the approach. Science Fiction, as Pohl said, is a way of thinking about things”.
Ora esse cadinho de ideias para o qual todos os autores vão contribuindo a cada obra, enriquecendo-lhe o léxico, é, por default, porque não pode ser de outra forma, um cadinho americano. É esta essencial característica que permite que Malzberg defina “science fiction as a single, demented, multi-tentacled artist singing and painting and transcribing in fashion clumsy and elegant, errant and imitative, innovative and repetitious, the way the future would feel”. Só que esta criatura singular tem que ser forçosamente englobante, agregadora das várias formas de expressão, das várias mãos que se erguem de meninos que querem subir ao palco, sob o manto de uma única linguagem, que é a ficção científica.

Daí que o Luís tenha toda a razão quando questiona a validade e o interesse – eu diria mesmo a possibilidade – de uma Ficção Científica não-americana e, ultimamente, de uma ficção científica geneticamente portuguesa. Até que grau será possível afastar-se da matriz americana sem erradicar as próprias características da Ficção Científica? Até que ponto será necessário afastar-se das raízes genéricas para criar uma ficção científica de carácter verdadeiramente local? E será essa ficção científica, ainda ficção científica?
Ao ler o ensaio do Luís, apercebo-me como se fosse pela primeira vez, de que todos temos andado a falar de uma criatura que ainda ninguém definiu a contento: uma Ficção Científica Portuguesa. O que é? Como reconhecê-la? A mais próxima definição que encontro continua a ser a de José Manuel Morais: uma ficção científica escrita por portugueses (onde deveria ler-se, invisível, uma Ficção Científica Americana escrita por portugueses). E poderá haver outra? Existirá, por exemplo, uma Ficção Científica Francesa que não seja uma Ficção Científica Americana Escrita por Franceses?
A pergunta pode colocar-se, sistematicamente, ao longo da geografia global, procurando sempre uma mesma resposta: se existe, qual é o elemento que faz dela uma Ficção Científica não-Americana? É evidente que não me é possível ensaiar sequer uma tentativa de resposta quanto a uma multiplicidade de universos imaginários que não conheço senão pelo reflexo distorcido do cinema (que, como todos sabemos, se posiciona quase sempre e cada vez mais em oposição ao universo da FC escrita, afastando leitores e distorcendo a sua semântica própria para a adaptar à (uni)dimensão do espectáculo sensorial): a FC Japonesa, ou Checa, por exemplo. Mas vasculhando bem fundo que poderemos encontrar? John Griffiths, no seu pertinente Three Tomorrows – American, British and Soviet Science Fiction (1980), não analisa o trabalho de Lem, mas refere: “I believe its characteristics stem more from his Polishness than from his politics, and since he himself specifically rejects any special role for science fiction and even rejects the Russian Tarkovsky’s treatment of his novel Solaris (…)” mas não aprofunda mais a questão. Mas seria interessante apurar quais os elementos que conformariam aquela “polacidade” de Lem, que considerava a ficção científica como um bando de charlatães rodeando um único verdadeiro profeta, Philip K. Dick... um autor americano.
Interessante, também, neste tactear cego à procura da essencial alteridade regional ou nacional, escarafunchar um pouco numa Ficção Científica que pensaríamos tão essencialmente antagónica ao modelo Americano como o deveria ser a Soviética. Mas esta, começando com Plutonia, uma narrativa iniciada em 1913 mas terminada apenas após a Revolução de 1917, cedo se viu tolhida pelo diktat do seu autor, Obruschev (tão familiar aos nossos ouvidos) de que uma boa história de FC, para além de plausível deveria ser educativa, desprezando o carácter lúdico da FC de Verne e Doyle, que Obruschev deplorava mas em cuja veia escrevia sem o jeito daqueles autores. Após a Revolução, a FC Soviética voltar-se-ia uma vez mais para os autores utópicos do Século XIX, como os Príncipes Mikhaíl Scherbatov e Nikolai Chernishevsky, a par de autores menores mas mais tecnofílicos como Chikolev e Rodnik. Gorki escreveria que “a ciência e a tecnologia não deveriam ser representadas como um armazém de convenções prontas a servir, mas sim como uma arena onde um homem real se sobrepõe à matéria e às tradições”, recomendação que os autores Soviéticos se apressaram a ignorar. Por fim, em 1928 o Partido Comunista começa a controlar as publicações, até suprimir as inúmeras e populares revistas de FC que, nas palavras de Alan Myers (numa carta enviada a Griffiths) eram preenchidas quase totalmente por “plágios de produtos ocidentais ou meras traduções destes, incluindo incontáveis cientistas loucos; após a supressão das revistas em 1930, as pessoas olhavam com nostalgia para aquelas histórias, mesmo já na década de cinquenta, contrastando as suas aventuras cheias de acção com o aborrecidíssimo produto contemporâneo”. A situação mudaria nos anos 70 com autores como os Strugatski, Snegov ou Pukhov, autores manifestamente heterodoxos em relação ao regime e à literatura por este imposta (Efremov e companhia), influenciados pelo crescente influxo de obras de autores ocidentais na União Soviética após a abertura proporcionada pela visita de Nixon à URSS, sobretudo Heinlein, Dick, Asimov, Sheckley, Bester, Simak, et. al.
Ou seja, mesmo uma literatura fantástica como a Soviética, que nos pareceria mais naturalmente dona de uma voz própria, optou ao longo da sua evolução pela imitação, agregação, adopção e adaptação dos temas, linguagem e semântica própria da Literatura de FC Ocidental, dando forma ainda mais consistente à imagem de Malzberg que via os autores de FC apenas como tentáculos de uma única criatura: a Ficção Científica.
Como necessário corolário dessa assunção, Malzberg deixa-nos ainda uma lição que, se seguida, poderia ter sido bastante nestes últimos dias: “We may be less than the sum of our parts but we are far, far more in the aggregate than individually we ever took ourselves to be. None of us can build science fiction, none of us can destroy it. Science fiction gave us voice and the voice, however directed, must be toward its perpetuation.”
É o que permite à Ficção Científica manter-se pujante e coesa há cento e cinquenta anos, essa unidade em torno de um cânone universalmente reconhecido, amado, imitado e enriquecido por cada autor que se estreia no género. É a base da sua perpetuação.
Por isso, e na peugada do trabalho do LFS, penso que seria importante reflectir sobre o tema, procurar descobrir quais seriam os modos de tratamento da FC que permitiriam torná-la genuinamente portuguesa. Que cada um de nós parasse um pouco para pensar nos pontos extremamente válidos que o Luís formulou, e apresentasse, nos seus próprios blogues, ou nas caixas de comentários disponíveis, a sua opinião sobre a possibilidade, necessidade ou utilidade de uma Ficção Científica exclusivamente Portuguesa.
Não posso terminar estas breves notas sem responder à questão obrigatória: por muito que me custasse deixar para trás os trabalhos do João Barreiros, do Luís Filipe Silva, do David Soares, do Macedo, ou do Tércio, não hesitaria um segundo em escolher a primeira pilha. A vantagem é que quem escolhesse a segunda ia ter que gramar o que eu próprio escrevi. A escolha foi vossa.









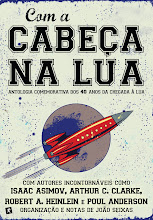










































Sem comentários:
Enviar um comentário