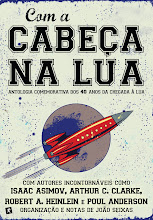Estava eu a dispor alguns livros na minha modesta biblioteca pessoal (não, não é a da fotografia... negligentemente, não tinha a câmara comigo) quando me deparei com uma dúvida aflitiva que deve tocar a qualquer pessoa que tenha por hábito acumular livros e DVDs como se a sua vida dependesse disso (yeap, sou um desses...): onde arrumar determinado livro, de determinado autor, quando ele está inserido numa colecção? Junto com as outras obras desse autor, deixando uma brecha na colecção? Ou colocá-lo na colecção, deixando uma brecha na bibliografia de lombadas?
É uma questão ociosa, dirão os leitores mais pragmáticos. Mas para quem tem frequente necessidade de citar obras e autores, uma fácil e imediata localização de um dado título é um imperativo de sobrevivência. Pois bem, enquanto estava ali perdido com o livro na mão, hesitando entre uma estante e outra, com os olhos a dilatar e a respiração a alterar-se perceptivelmente (a perda de tempo é outra grande ameaça), dei comigo a procurar padrões adoptados em situações anteriores. E como acontece sempre nestes casos, a vertigem de lombadas obriga-nos a retirar um e outro livro, saboreando velhas experiências de leitura, procurando lembretes esquecidos entre as páginas, frases ou cenas favoritas, anotações de que nos arrependemos ou excertos que devíamos ter anotado.
E no meio de tudo isso, apercebi-me de que, com excepção das prateleiras com o alinhamento uniforme das lombadas amarelas da DAW, e de uns quantos títulos da SF Masterworks, tenho sempre arrumado os livros por autor, por tema ou por período. Nunca por colecção.
A razão é óbvia. Basta olhar para a distribuição dos livros e a constatação é evidente: o conceito de colecção de ficção científica tem desaparecido progressivamente. Esfumou-se o prazer juvenil de esperar pelo dia em que surgia nas livrarias o "número X" de determinada colecção. O prazer de o ler, na certeza de que no mês seguinte surgiria um outro, uma surpresa, um título aleatório. Retrospectivamente, é curioso que recordo essa sensação, com particular intensidade, em relação à colecção "Guerra & Espionagem" da Europa-América, que comprei religiosamente desde os meus 11 anos, quando foi publicado o primeiro título, A Sul de Java de Alistair MacLean (a tradução de South by Java Head), autor que se batia com Robert Heinlein pela minha preferência.
Creio que todos nós, entusiastas da literatura de género, o somos, em parte, por causa do conceito de colecção. Sob determinada égide, sabíamos que íamos encontrar um cardápio variado de obras que, umas vezes mais, outras vezes menos ao nosso gosto, nos proporcionava a expectativa e a experiência de uma similaridade temática que nos fixava o gosto e nos educava os sentidos. E não eram poucas as colecções que competiam pela nossa atenção: a Argonauta, a DH Ciência, a Panorama, a Bolso Noite, a Europa-América de bolso, a Nébula da mesma EA, a colecção azul da Caminho, todas elas nos apresentavam títulos e autores variados, unidos sob o signo (quase escrevia "estigma") de um género prenhe de aventuras, descobertas, cientistas loucos, naves espaciais e monstros de olhos esbugalhados.
Mas, uma a uma, elas foram desaparecendo. Provavelmente, faço parte da última geração a experimentar o fenómeno "Colecção de FC". O que podemos observar agora, é uma dispersão de títulos capaz de despistar os leitores mais atentos. Subitamente, publica-se literatura fantástica com uma frequência quase frenética, mas sem tino aparente: surge Neal Stephenson na Tinta da China, Gordon Dahlquist na Bertrand, Susanna Clarke na Casa das Letras, Valerio Evangelisti na Asa, Preston & Childe partidos entre a Ulisseia e a Saída de Emergência, de uma forma que - espera-se - alcança um número mais alargado de leitores, sem perder muitos dos que normalmente comprariam já esses livros. Enquanto isso as colecções que nos formaram enquanto leitores do fantástico vão desaparecendo paulatinamente (a Argonauta vai vegetando estupidamente rumo ao oblívio, seguindo quer o Dodó, quer a colecção da EA, que parece ter morto deliberadamente a Nébula com a publicação de A Era das Brumas).
Importa, porém saber, se isso reflecte uma preferência do público, ou é uma opção editorial que se vai reflectir no público leitor. É uma consequência da crise do fantástico (não só em Portugal, embora o conceito de colecção, sobretudo numerada, nunca tenha sido normal na cultura de língua inglesa, onde os livros se distinguem claramente das revistas - essas sim numeradas - que competem com eles; mas em França as colecções prosseguem, e numeradas), ou é uma das causas dessa crise? Reflecte um abandono por parte do público, ou é uma imposição editorial? É uma afirmação da morte do fantástico (o conceito de género morreu, e as obras que se "aproveitam" são integradas no mainstream) ou uma tentativa de afirmar o seu predomínio fora do nicho das colecções?
Não há, para já, muito onde procurar respostas. Os poucos exemplos que temos não são concludentes. A Editorial Presença tem duas colecções dedicadas ao fantástico (a Via Láctea e a Viajantes do Tempo), ambas numeradas e com publicação regular; no entanto, depois de um começo promissor, parecem ter-se concentrado num público-alvo young-adult, o que pode explicar a sobrevivência do conceito de colecção numerada; a Saída de Emergência assumiu o conceito de colecção temática, não numerada e com abrangência mais vasta, cobrindo todas as áreas do fantástico (a colecção BANG!, com predomínio da fantasia, e rareando a FC). Mas é uma colecção atípica (pela variedade temática, pela irregularidade de publicação, que pode ir de um ou nenhum, a vários títulos no mesmo mês), tradutora de uma estratégia interessante de identificação do leitor com a literatura do fantástico e de separação do remanescente do (abundante) catálogo.
Outras editoras mais recentes, que surgiram com fortes apostas no fantástico (a Livros de Areia, de que sou suspeito para falar com total isenção, e a Chimpanzé Intelectual, parecem ter resolvido - para já - não apostar no conceito de colecção num ou noutro sentido.
Certo é que, como resposta ou causa, a "colecção" pode estar intimamente ligada à crise do fantástico como género literário. A aposta numa colecção de Ficção Científica à antiga parece ser encarada como um risco pelos editores nacionais, a não ser que destinada a um publico-alvo específico como no caso da Presença.
Há, porém, uma vertente que se pode explorar: face às novas tecnologias, com claro destaque para a Internet, não é necessário grande esforço para se organizar uma boa colecção de ficção científica. Nem é preciso grande génio. O trabalho está todo feito pelos editores internacionais. Procuram uma colecção que apresente uma montra da variedade, riqueza e vitalidade do género? É só copiar o catálogo da SF Masterworks. Querem uma colecção moderna e actual? Basta ler a Locus todos os meses. Querem uma colecção mais arrojada e não muito cara de produzir? É só copiar o catálogo da PS Publishing. Qualquer editor pode facilmente criar uma excelente colecção.
Mas haverá público para uma colecção? Ou será apenas um custo capaz de arrastar uma editora para o charco? João Barreiros, que tem um gosto irrepreensível e um conhecimento inexcedível do género tentou duas vezes com resultados históricos, honrosos mas estéreis. O Luís Filipe Silva, que não lhe fica atrás, tentou e tombou ao fim de apenas um número. Em ambos os casos, não há defeito que se possa apontar às escolhas efectuadas. Eram títulos incontornáveis, obras marcantes, autores exímios e livros representativos. Num dos casos, a colecção era ainda enriquecida por uma apresentação em hardback com dusk jacket.
Por isso, a pergunta que abre o cofre, que transfere a herança, que dá acesso ao budoir é: poderia o regresso à colecção resolver a crise do fantástico? Confesso que é uma experiência que hesito em tentar. Mas que gostaria de ver tentada. Gostaria de ter de voltar a esperar religiosamente por um título todos os meses, ou cada dois meses, ou cada três meses, aguardando para ver que surpresa me reservou o editor. Mas isso é a voz da nostalgia a ecoar pelas estantes.
E ainda não sei onde guardar o livro....

 No entanto, é imprescindível retirar duas conclusões de toda esta matéria; uma delas, d'Avillez roça com algum prazer malandro, que é a credulidade da nossa intelligentzia cultural que, abananada pelo sucesso de autores comerciais vácuos (como Luis Miguel Rocha, José Rodrigues dos Santos ou Miguel Sousa Tavares) e autores pretensiosos vácuos (como Gonçalo Tavares, José Luis Peixoto ou Rodrigo Guedes de Carvalho) perdeu a capacidade crítica de destrinçar a substância da aparência e procura gratuitamente causas que justifiquem uma indignação de sofá, sem outras consequências que não o eco encontrado no círculo restrito de blogues dos amigos.
No entanto, é imprescindível retirar duas conclusões de toda esta matéria; uma delas, d'Avillez roça com algum prazer malandro, que é a credulidade da nossa intelligentzia cultural que, abananada pelo sucesso de autores comerciais vácuos (como Luis Miguel Rocha, José Rodrigues dos Santos ou Miguel Sousa Tavares) e autores pretensiosos vácuos (como Gonçalo Tavares, José Luis Peixoto ou Rodrigo Guedes de Carvalho) perdeu a capacidade crítica de destrinçar a substância da aparência e procura gratuitamente causas que justifiquem uma indignação de sofá, sem outras consequências que não o eco encontrado no círculo restrito de blogues dos amigos.