
Nesta frenética rentrée, repleta de novidades para os amantes da literatura e do cinema de Horror, chega hoje às livrarias o primeiro romance de David Soares, A Conspiração dos Antepassados (Saída de Emergência). Aqueles que já apreciavam os seus contos e álbuns de BD, ou a inteligência que coloca nos ensaios que dedica aos mais diversos assuntos, vai encontrar neste livro todos os ingredientes a que já está habituado. Quem nunca leu David Soares, e quiser experimentar este romance, vai descobrir um mosaico literário de delicada artesania, composto de exaustiva pesquisa histórica, um saudável cinismo autoral e um sentido de ritmo narrativo que o manterá agarrado da primeira página até à fascinante secção final, informativa e profusamente ilustrada. Quem não estiver para aí virado, sempre poderá desfrutar do agradável aspecto gráfico do livro (do qual não resisto a destacar o tratamento dado à lombada).

A publicação deste livro dá o mote a mais esta entrevista; como bom conversador que é, acabamos por falar de muitos outros tópicos.
David, depois de teres explorado várias técnicas narrativas, desde o conto ao argumento de Banda Desenhada, surge agora o salto para o romance. Trata-se de uma história que tinha de ser contada assim, ou sentiste que já tinhas esgotado a forma curta?
O modo como uma história começa a ser formada na minha cabeça, muitas vezes começando com um cruzamento de ideias ou uma determinada imagem, diz-me, logo no início, se ela se vai tornar um conto, um álbum de BD ou, neste caso, um romance. Tudo se relaciona com aquilo que a história precisa: algumas ideias prestam-se melhor a serem contadas com palavras e imagens, outras só com palavras; não existe uma situação de esgotamento diante de um modo particular de desenvolver um enredo.
“A Conspiração dos Antepassados” é um livro que me acompanhou durante muito tempo, mesmo quando, na sua fase embrionária, se resumia a dois trabalhos diferentes: uma biografia sobre Fernando Pessoa e uma biografia sobre Aleister Crowley, ambas iniciadas há quatro anos, mas, entretanto, interrompidas em virtude de outros trabalhos. No primeiro caso, tratava-se de um trabalho em spoken-word chamado “Os Quatro Elementos”, uma biografia ficcionada sobre Pessoa, com bastante hermetismo à mistura. No segundo, pensei em escrever uma trilogia em BD; comecei a escrevê-la, mas não tive sorte em encontrar um desenhador que quisesse aventurar-se numa tarefa tão grande. Esses projectos nunca saíram do meu horizonte, contudo e, mais tarde, conjugaram-se de um modo natural noutro formato. É revelador da plasticidade das histórias: quem deseja trabalhar como contador de histórias não pode olhar para as ideias como objectos estanques.
Penso que tenho muita sorte enquanto escritor porque também sou um desenhador e o meu trabalho em banda desenhada é muito útil no que alude à visualização de ambientes e personagens. Em essência, vejo aquilo que escrevo com bastante clareza. É preciso esclarecer que tanto a banda desenhada como a prosa são dialectos distintos do espectro visível composto pelas linguagens narrativas: ou seja, as duas são ferramentas perfeitas para contar histórias.
Dizes no teu blogue que este livro é, até agora, o que traduz de modo mais eficaz as tuas “preocupações autorais, temáticas e ambientes”. Vertentes que se prestam deliciosamente a exploração, começando por sondar em que sentido traduz este livro que agora chega às livrarias as tuas “preocupações autorais”?
Gosto muito de escrever contos, e entendo-os como peças muito específicas, cirúrgicas, até, mas um romance é uma forma maravilhosa de brincar com aquilo que mais nos fascina porque é muito maior. Não me considero uma pessoa negra, mas o meu universo autoral é feito de imagens negras. Penso que possuo uma sensibilidade mais escura no que diz respeito à abordagem aos assuntos e é essa qualidade que se transfere para o produto final. “A Conspiração dos Antepassados” não é excepção porque contém elementos de romance histórico, de thriller, de literatura fantástica, mas, no seu âmago, é ainda um livro de horror. É um romance de horror sobre um período especial da história de Portugal, uma história de horror sobre Fernando Pessoa, Aleister Crowley e Lisboa. Penso que por ter sido escrito com a já referida sensibilidade negra em mente acabou por ficar com uma intensidade insuspeita.
Trata-se de um romance onde exploro muita coisa que me dá prazer: o estudo da história e as ciências ocultas, por exemplo. Eu sou ateu e não acredito em Deus e na existência do espírito, mas gosto muito de escrever sobre temas sobrenaturais. Apenas tento observá-los à luz do cepticismo, tento descobrir novos pontos de vista para escrever sobre eles. Acredito que existe mesmo um ponto de encontro entre a ciência e o oculto porque a maioria dos conceitos herméticos encontra um reflexo na ciência. Acho que alguns feiticeiros foram mesmo proto-cientistas, mas na ausência da terminologia da física e da química usaram a astrologia e a numerologia para descreverem as experiências e as descobertas. Estou a lembrar-me da Árvore da Vida cabalística, que cito múltiplas vezes no romance. É uma forma poética, mística, de falar sobre aquilo que os físicos e os astrónomos actuais chamam de Multiverso. O nosso universo é composto por 90% de matéria negra e uma força física chamada energia negra que concorre para o expandir, lutando contra o coice da gravidade. Os cientistas acreditam que durante esse processo de expansão o nosso universo cria universos novos, assim como nascem pequenas bolhas na superfície de uma grande bola de sabão que estejamos a soprar por uma palhinha. Isso é a Árvore da Vida: vários universos semelhantes, mas diferentes, coexistindo; brotando uns dos outros.
Existem temas recorrentes no meu trabalho, certas ideias... Gosto de pensar que as minhas histórias são optimistas, mesmo assim. Acho que sou obcecado tanto por imagens de trevas como imagens de luz.
Lisboa é uma cidade normalmente associada à sua luz e é verdade que sempre se pressentiu Lisboa em toda a tua obra. Não só nos contos que fazes desenrolar aí, mas como uma personagem mais que aparece mascarada, como cidade túmulo ou como ruína graffitada. De onde provém esta paixão lisboeta?
Começou de um modo muito simples. Sempre gostei da cidade, mas quando me mudei para Campolide comecei a ler mais sobre a sua história. Principalmente, moveu-me o impulso de conhecer bem o lugar para onde tinha ido morar. Descobri que Lisboa tem uma história riquíssima, e que nem sempre é luminosa. A noção de Lisboa como “Cidade Branca” é totalmente falsa: Lisboa é vermelha e castanha, azul e amarela. É uma cidade pintada com uma paleta mediterrânica quente, mas escura. O Sol é muito enganador, basta subir até ao Castelo de São Jorge para o constatar, basta passear pelos bairros históricos para o aprender. Apesar disso, não considero Lisboa uma cidade “gótica”, como Londres. Nada disso. A escuridão de Lisboa é de outra ordem… Telúrica, talvez. A escuridão que se encontra numa cidade soterrada quando se quebra a casca estratigráfica. Lisboa é uma cidade soterrada; já o era antes do terramoto de 1755: ela é que ainda não se apercebeu disso.
Agora moro em Alcântara, o que não me surpreende, pois, de uma forma ou de outra, acabo sempre por ser “atirado para aí”. É um lugar de infância onde passei várias temporadas com os meus avós, é o sítio onde encontrei o meu primeiro emprego numa agência de publicidade e, agora, é o sítio onde moro. É muito relaxante sair de casa depois do jantar e ir passear a pé até ao Mosteiro dos Jerónimos. Onde mais eu poderia espreitar pela janela e ver mais de quinhentos anos de história debaixo do nariz? É um privilégio!
Como sabes, gravei um spoken-word sobre Lisboa: é um dos meus trabalhos preferidos! Lisboa nunca me sai da cabeça enquanto escrevo. Mesmo quando escrevo sobre cidades sem nome vou roubar panoramas a Lisboa.
Não obstante, esta “Conspiração” traz a Londres das neblinas até Lisboa, aflorando a exótica Tunísia. De certa forma, são todos ambientes propícios ao fantástico. Há alguma dimensão pessoal nos loci que escolheste? Ou foram exclusivamente ditames de correcção histórica?
“A Conspiração dos Antepassados” é uma história sobre o encontro de Fernando Pessoa com Aleister Crowley, mas foi o segundo quem viajou para falar com o primeiro. Sempre considerei que esse encontro poderia servir de base para contar uma história interessante, mas apenas se fosse encontrada uma excelente razão para a ocorrência. Com isto quero dizer que o encontro real não foi muito interessante: Pessoa esteve com Crowley pouco mais que três breves vezes. Acho que Crowley gostou mais de Pessoa que Pessoa gostou de Crowley; a evolução da correspondência entre ambos é evidente. Crowley continuou a escrever cartas, inclusive uma na qual manifesta o desagrado em não ter respostas. Essa foi a última carta. Existe uma pequena circular dirigida a Pessoa que era missiva exclusiva dos membros da Argenteum Astrum, uma das fraternidades mágicas que Crowley organizou, mas dizer-se que Pessoa foi iniciado nessa ordem, ou outra, com base nesse documento é conjectural. A verdade é que ninguém sabe a verdadeira razão que fez Crowley vir a Lisboa em Setembro de 1930. A minha conclusão é que ele veio, simplesmente, em férias.
Estava a passar um mau-bocado e começavam-se a esgotar os países onde ele poderia estar. Já tinha sido proibido de entrar em Itália e na França… Acho que ele apenas quis mudar de ares e o facto de ter um correspondente em Lisboa, que ainda por cima falava inglês, pesou na decisão de vir a Portugal. Enquanto cá esteve não fez nada de traquinas: foi à praia, pintou uns quadros e passeou em Sintra e Lisboa. Só quando a namorada o abandonou é que ele procurou Pessoa com maior urgência para que o ajudasse a forjar o suicídio na Boca do Inferno. Foi nesse período que estiveram mais próximos e, logo em seguida, Crowley foi-se embora. Isto não é material suficientemente intrigante para se escrever um bom romance.
Nessa óptica, urgia encontrar um bom motivo para a viagem de Crowley e para o contacto com Pessoa. Percebi que teria de ser algo relacionado com a história de Lisboa, com a história de Portugal. Não fazia sentido escrever uma aventura onde Crowley se desloca a Lisboa em busca de um artefacto estrangeiro: tinha se ser algo especificamente português; e, ao mesmo tempo, europeu. Algo interdisciplinar que, sem deixar de ter um carácter português, comunicasse com outras histórias, com outras mitologias. A resposta era óbvia: o mito sebástico!
É a escolha perfeita porque consegue unir com elegância as mitologias de Pessoa e de Crowley e, também, servir de coluna a um romance onde eu possa falar de história e de magia. Faz sentido, do ponto de vista ficcional, colocar Crowley em busca de Pessoa porque ele era um profundo conhecedor do mito sebástico. Assim como na ciência, também na literatura as soluções mais elegantes são as melhores.
Atento o título e o teor da história que resolveste contar, receias que o público leitor possa confundir essa elegância de soluções, que muitas vezes separa a boa da má ficção, com os romances pseudo-históricos de Dan Brown ou Luís Miguel Rocha? Como encaras esse modelo literário que parece ter tomado de assalto o mercado editorial?
Penso que nas próximas décadas qualquer livro será comparado, em menor ou maior espessura, com “O Código Da Vinci”, e isso cinge-se ao impulso que os leitores têm de comparar as novidades com aquilo que já conhecem para se familiarizarem rapidamente com elas. Isso é válido para tudo, não apenas para os livros. O que se passa é que esse livro de Dan Brown foi, para o bem ou para o mal, um mastodôntico sucesso comercial. Que significa isso? Que, provavelmente, toda a gente comprou o livro, leu o livro ou ouviu falar dele. Já nem refiro aqueles que só viram o filme... Avaliando a questão desse prisma é óbvio que qualquer livro que seja editado daqui em diante será medido segundo a escala do “Código”; mas a um nível superficial. Acredito que a maioria dos leitores são mais inteligentes que isso e que são capazes de ler um livro sem necessidade dessas muletas. Romances com personagens históricas são publicados às dezenas todos os dias e já o eram antes de “O Código Da Vinci” ser editado. Pessoalmente, eu acho que o Dan Brown nunca imaginou a aberração na qual o seu livro se iria transformar e que ele apenas quis escrever um bom livro de aventuras inscrito na tradição de thrillers que o antecede.
Escrever sobre personagens históricas pode ser um exercício divertido. Eu já escrevi sobre Nietzsche e William Burroughs, adaptei o “Doutor Fausto” de Thomas Mann para banda desenhada, gravei um spoken-word sobre a história e a mitologia de Lisboa e guardo excelentes recordações do processo criativo desses trabalhos. Escrever sobre Fernando Pessoa e Aleister Crowley foi ainda mais divertido porque são, por mérito próprio, personagens maravilhosos. De qualquer das formas, eu não acho que “A Conspiração dos Antepassados” seja um romance histórico. O solo onde a narrativa é plantada é adubado com bastante rigor histórico e biográfico, claro, mas o enredo é completamente ficcionado. Depois, está recheado de elementos de literatura fantástica que costumam estar ausentes nesse género e, mais importante, tem uma intensidade, um dramatismo, que se relaciona com o facto de ter sido escrito como um livro de horror. Volto a dizer que é uma aventura negra que possui elementos de romance histórico, de thriller, de literatura fantástica e horror. Costumo dizer que acabar de escrever um romance é como ter um filho, mas quem tem um filho é muito mais sortudo porque é bastante fácil definir um recém-nascido: ou é menino ou menina. Agora... um romance?! É mais difícil definir o género de um romance. Dizer-se que um determinado título se inscreve na peugada do sucesso do “O Código Da Vinci”, e epígonos, somente porque fala sobre personagens ou acontecimentos históricos revela falta de imaginação. Trata-se de uma entidade complexa que, a fazer-lhe justiça, não pode ser classificada apenas com um rótulo. É preciso lê-lo, pensar sobre ele.
Falando em géneros, se há um género literário que, em Portugal, está em pior situação do que a ficção científica, é o Horror. Como autor, nas várias vertentes criativas, e como criador com uma “sensibilidade negra”, tens sido o único autor nacional a apresentar consistência no trabalho dentro do género. Há alguma razão para que o Horror não seja tão bem recebido entre nós?
Não sei porque é que não existem mais autores portugueses de ficção de horror ou de ficção científica, mas acho que existe um preconceito enorme dirigido a qualquer espécie de livro que tente contar uma história sem se preocupar com o simples relato de emoções, ideias ou expressões. Também existe um preconceito ainda maior voltado contra os livros que se tornem grandes sucessos comerciais: é um absurdo! A má qualidade de uma obra não se correlaciona com um número de vendas elevado nem um título que venda apenas uma centena de exemplares é, à partida, uma obra de arte. Existem livros que vendem bastante e que são muito bons e outros que não vendem nada, precisamente, porque são péssimos.
Acredito que o horror é, por excelência, o género da ruptura: é assim que eu o vejo. É um género que lida com os assuntos humanos através da transgressão, da ruptura, da noção de danação que advém do conhecimento de si. Todas estas ideias são bastante extremas e é natural que sejam, também, desconfortáveis para a maioria dos leitores. Não há nada de errado com isso... Enquanto leitor, ou espectador, gosto de obras que me provoquem, simplesmente porque gosto de aprender e as situações extremas são excelentes salas de aula para aprenderes um pouco sobre ti mesmo.
Portugal não tem géneros literários de origem, excepto o fenómeno do Novo Realismo que surgiu na segunda metade do século XX como literatura de denúncia política e social. Tudo aquilo que os nossos romancistas escreveram ou escrevem segue os modelos de ficção franceses ou anglo-saxónicos. Os “Vencidos da Vida” do século XIX copiavam os modelos deixados em aberto por romancistas ingleses como George Gissing... Acho que a nossa tradição literária se inclina para a comédia de costumes inaugurada pela Madame de la Fayette no século XVII e tudo o que se afasta desse cânone é, infelizmente, observado como sendo parte menor da literatura. Eu acho que um livro ou é bom ou não é bom, independentemente de fazer parte de uma literatura de género ou de fazer parte daquilo que é considerado pela academia como sendo a alta literatura.
Outra coisa que deve ter influenciado bastante o nosso modo de olhar para a arte deve ter sido o efeito que a tradição religiosa operou, e ainda opera. A inquisição só foi abolida em Portugal há cento e oitenta e seis anos!... Pensar que quase quatro séculos de repressão religiosa não influenciaram o nosso modo de olhar os livros é ingénuo: isso diz muito sobre o modo como a ficção de horror e a ficção científica são mal recebidas aqui e em outros mercados inseridos em países de fortes tradições religiosas.
Um autor que aborda frequentemente uma temática e uma imagética religiosa e escatológica é Clive Barker. Nota-se, na tua obra, uma marcada influência barkeriana. Se é certo que todos os autores buscam imitar os seus escritores favoritos (“retribuir-lhes o prazer da leitura”, como diria Borges), que outros autores ou cineastas te marcaram mais?
Quando escrevo não penso em nenhum autor. O que me interessa é capturar o tom da história que estou a escrever e isso é algo que apenas se aprende com a experiência da escrita, porque não pode ser ensinado de outra forma. Relaciona-se com a voz autoral, mas é uma coisa diferente. Acho que cada autor fala com uma voz distinta: as influências são os sotaques. É possível que tenha um pouco de sotaque barkeriano porque o Clive Barker é um dos meus autores preferidos.
Outro autor que gosto muito é o escritor alemão Günter Grass. Vi o filme “O Tambor”, de Volker Schlöndorff, que adapta o romance homónimo de Grass para o cinema, quando andava na segunda classe e fiquei muitíssimo impressionado. Era grotesco: nunca tinha visto nada parecido! Tinha montes de nudez e sexo, muito perverso, e era, igualmente, muito violento. Acho que a mistura de sexo com a violência, mais o ambiente negro e fantástico, me influenciou muito. Mais tarde li o livro e descobri que era ainda mais extremo que o filme.
Gosto de escrever sobre sexo e tento escrever sobre sexo como parte do horror e não como uma fuga ao horror. Acho que o sexo pode ser uma experiência aterrorizante: é um momento onde se está bastante vulnerável e onde se comunga com outro corpo, com outra mente. O sexo transforma-nos; e se não tivermos cuidado transforma-nos naquilo que não gostaríamos de ser.
Gosto de muitos autores diferentes, mas quando escrevo só penso em mim: naquilo que me está a ser sugerido pela narrativa e como isso afecta o tom que desejo imprimir nas palavras. Costumo ler em voz alta para ouvir o ritmo das frases e se eu não gosto do que ouço, mudo-as. Foi algo que trouxe para a escrita depois de ter gravado o CD “Lisboa”: tento que o texto funcione como uma história contada oralmente. Acho que isso fortalece muito o resultado final porque se acaba por conseguir algo hipnótico, harmonioso. Eu gosto bastante disso! Não tenho ouvido para a música, mas penso que tenho ouvido para as letras.
E jeito para o desenho. Se te pedissem que escolhesses um livro de Horror para adaptar a Banda Desenhada, qual escolherias? E porquê?
Não me lembro de nenhum, mas a BD tem grandes obras originais de horror. O autor japonês Junji Ito é um grande exemplo: “Uzumaki” é uma das melhores obras de horror que já li; é mesmo perturbante e o final é grandioso. Sobretudo é uma obra de horror pensada para ser uma banda desenhada, com cenas imaginadas para esse formato! Penso que as adaptações em BD de romances de horror não são grande coisa, mas as histórias originais de horror em BD costumam ser bastante eficazes.
Pode-se fazer coisas assustadoras em BD... Lembro-me do álbum de Alberto Breccia com adaptações de contos de Lovecraft, mas o Breccia era um mestre! É uma obra genial com soluções gráficas brilhantes. Já a biografia em BD sobre Lovecraft que o filho Enrique Breccia desenhou deixa muito a desejar.
Acho que gostaria de ver alguém adaptar os “Contos da Chuva e da Lua”, de Ueda Akinari, porque consiste em material muito visual e ficaria perfeito se representado com algum surrealismo, algum experimentalismo abstracto. Uma espécie de Mark Rothko meets Kaneto Shindo. Cor, ambiente onírico e violência gore: eu estaria na linha da frente para os autógrafos.
Terminado o primeiro romance, com vários volumes de contos e álbuns de BD no currículo, a seguir, que projectos?
Tenho muitas histórias que quero escrever, mas ainda não sei qual delas será o meu próximo trabalho. Tenho uma ideia em desenvolvimento para um grande romance sobre Lisboa, algo que quero muito fazer porque se trata de uma coisa que ainda não experimentei: um épico! Também tenho muitos argumentos de BD que quero tirar da gaveta, se encontrar desenhadores com vontade de trabalhar, porque adoro essas histórias e quero vê-las cá fora. Ainda tenho muitas ideias para contos. A verdade é que nunca consigo parar durante muito tempo. Sou um contador de histórias: sei o que sou e o que preciso de fazer para ser feliz e faço-o! Não perco tempo com coisas inúteis.
David, depois de teres explorado várias técnicas narrativas, desde o conto ao argumento de Banda Desenhada, surge agora o salto para o romance. Trata-se de uma história que tinha de ser contada assim, ou sentiste que já tinhas esgotado a forma curta?
O modo como uma história começa a ser formada na minha cabeça, muitas vezes começando com um cruzamento de ideias ou uma determinada imagem, diz-me, logo no início, se ela se vai tornar um conto, um álbum de BD ou, neste caso, um romance. Tudo se relaciona com aquilo que a história precisa: algumas ideias prestam-se melhor a serem contadas com palavras e imagens, outras só com palavras; não existe uma situação de esgotamento diante de um modo particular de desenvolver um enredo.
“A Conspiração dos Antepassados” é um livro que me acompanhou durante muito tempo, mesmo quando, na sua fase embrionária, se resumia a dois trabalhos diferentes: uma biografia sobre Fernando Pessoa e uma biografia sobre Aleister Crowley, ambas iniciadas há quatro anos, mas, entretanto, interrompidas em virtude de outros trabalhos. No primeiro caso, tratava-se de um trabalho em spoken-word chamado “Os Quatro Elementos”, uma biografia ficcionada sobre Pessoa, com bastante hermetismo à mistura. No segundo, pensei em escrever uma trilogia em BD; comecei a escrevê-la, mas não tive sorte em encontrar um desenhador que quisesse aventurar-se numa tarefa tão grande. Esses projectos nunca saíram do meu horizonte, contudo e, mais tarde, conjugaram-se de um modo natural noutro formato. É revelador da plasticidade das histórias: quem deseja trabalhar como contador de histórias não pode olhar para as ideias como objectos estanques.
Penso que tenho muita sorte enquanto escritor porque também sou um desenhador e o meu trabalho em banda desenhada é muito útil no que alude à visualização de ambientes e personagens. Em essência, vejo aquilo que escrevo com bastante clareza. É preciso esclarecer que tanto a banda desenhada como a prosa são dialectos distintos do espectro visível composto pelas linguagens narrativas: ou seja, as duas são ferramentas perfeitas para contar histórias.
Dizes no teu blogue que este livro é, até agora, o que traduz de modo mais eficaz as tuas “preocupações autorais, temáticas e ambientes”. Vertentes que se prestam deliciosamente a exploração, começando por sondar em que sentido traduz este livro que agora chega às livrarias as tuas “preocupações autorais”?
Gosto muito de escrever contos, e entendo-os como peças muito específicas, cirúrgicas, até, mas um romance é uma forma maravilhosa de brincar com aquilo que mais nos fascina porque é muito maior. Não me considero uma pessoa negra, mas o meu universo autoral é feito de imagens negras. Penso que possuo uma sensibilidade mais escura no que diz respeito à abordagem aos assuntos e é essa qualidade que se transfere para o produto final. “A Conspiração dos Antepassados” não é excepção porque contém elementos de romance histórico, de thriller, de literatura fantástica, mas, no seu âmago, é ainda um livro de horror. É um romance de horror sobre um período especial da história de Portugal, uma história de horror sobre Fernando Pessoa, Aleister Crowley e Lisboa. Penso que por ter sido escrito com a já referida sensibilidade negra em mente acabou por ficar com uma intensidade insuspeita.
Trata-se de um romance onde exploro muita coisa que me dá prazer: o estudo da história e as ciências ocultas, por exemplo. Eu sou ateu e não acredito em Deus e na existência do espírito, mas gosto muito de escrever sobre temas sobrenaturais. Apenas tento observá-los à luz do cepticismo, tento descobrir novos pontos de vista para escrever sobre eles. Acredito que existe mesmo um ponto de encontro entre a ciência e o oculto porque a maioria dos conceitos herméticos encontra um reflexo na ciência. Acho que alguns feiticeiros foram mesmo proto-cientistas, mas na ausência da terminologia da física e da química usaram a astrologia e a numerologia para descreverem as experiências e as descobertas. Estou a lembrar-me da Árvore da Vida cabalística, que cito múltiplas vezes no romance. É uma forma poética, mística, de falar sobre aquilo que os físicos e os astrónomos actuais chamam de Multiverso. O nosso universo é composto por 90% de matéria negra e uma força física chamada energia negra que concorre para o expandir, lutando contra o coice da gravidade. Os cientistas acreditam que durante esse processo de expansão o nosso universo cria universos novos, assim como nascem pequenas bolhas na superfície de uma grande bola de sabão que estejamos a soprar por uma palhinha. Isso é a Árvore da Vida: vários universos semelhantes, mas diferentes, coexistindo; brotando uns dos outros.
Existem temas recorrentes no meu trabalho, certas ideias... Gosto de pensar que as minhas histórias são optimistas, mesmo assim. Acho que sou obcecado tanto por imagens de trevas como imagens de luz.
Lisboa é uma cidade normalmente associada à sua luz e é verdade que sempre se pressentiu Lisboa em toda a tua obra. Não só nos contos que fazes desenrolar aí, mas como uma personagem mais que aparece mascarada, como cidade túmulo ou como ruína graffitada. De onde provém esta paixão lisboeta?
Começou de um modo muito simples. Sempre gostei da cidade, mas quando me mudei para Campolide comecei a ler mais sobre a sua história. Principalmente, moveu-me o impulso de conhecer bem o lugar para onde tinha ido morar. Descobri que Lisboa tem uma história riquíssima, e que nem sempre é luminosa. A noção de Lisboa como “Cidade Branca” é totalmente falsa: Lisboa é vermelha e castanha, azul e amarela. É uma cidade pintada com uma paleta mediterrânica quente, mas escura. O Sol é muito enganador, basta subir até ao Castelo de São Jorge para o constatar, basta passear pelos bairros históricos para o aprender. Apesar disso, não considero Lisboa uma cidade “gótica”, como Londres. Nada disso. A escuridão de Lisboa é de outra ordem… Telúrica, talvez. A escuridão que se encontra numa cidade soterrada quando se quebra a casca estratigráfica. Lisboa é uma cidade soterrada; já o era antes do terramoto de 1755: ela é que ainda não se apercebeu disso.
Agora moro em Alcântara, o que não me surpreende, pois, de uma forma ou de outra, acabo sempre por ser “atirado para aí”. É um lugar de infância onde passei várias temporadas com os meus avós, é o sítio onde encontrei o meu primeiro emprego numa agência de publicidade e, agora, é o sítio onde moro. É muito relaxante sair de casa depois do jantar e ir passear a pé até ao Mosteiro dos Jerónimos. Onde mais eu poderia espreitar pela janela e ver mais de quinhentos anos de história debaixo do nariz? É um privilégio!
Como sabes, gravei um spoken-word sobre Lisboa: é um dos meus trabalhos preferidos! Lisboa nunca me sai da cabeça enquanto escrevo. Mesmo quando escrevo sobre cidades sem nome vou roubar panoramas a Lisboa.
Não obstante, esta “Conspiração” traz a Londres das neblinas até Lisboa, aflorando a exótica Tunísia. De certa forma, são todos ambientes propícios ao fantástico. Há alguma dimensão pessoal nos loci que escolheste? Ou foram exclusivamente ditames de correcção histórica?
“A Conspiração dos Antepassados” é uma história sobre o encontro de Fernando Pessoa com Aleister Crowley, mas foi o segundo quem viajou para falar com o primeiro. Sempre considerei que esse encontro poderia servir de base para contar uma história interessante, mas apenas se fosse encontrada uma excelente razão para a ocorrência. Com isto quero dizer que o encontro real não foi muito interessante: Pessoa esteve com Crowley pouco mais que três breves vezes. Acho que Crowley gostou mais de Pessoa que Pessoa gostou de Crowley; a evolução da correspondência entre ambos é evidente. Crowley continuou a escrever cartas, inclusive uma na qual manifesta o desagrado em não ter respostas. Essa foi a última carta. Existe uma pequena circular dirigida a Pessoa que era missiva exclusiva dos membros da Argenteum Astrum, uma das fraternidades mágicas que Crowley organizou, mas dizer-se que Pessoa foi iniciado nessa ordem, ou outra, com base nesse documento é conjectural. A verdade é que ninguém sabe a verdadeira razão que fez Crowley vir a Lisboa em Setembro de 1930. A minha conclusão é que ele veio, simplesmente, em férias.
Estava a passar um mau-bocado e começavam-se a esgotar os países onde ele poderia estar. Já tinha sido proibido de entrar em Itália e na França… Acho que ele apenas quis mudar de ares e o facto de ter um correspondente em Lisboa, que ainda por cima falava inglês, pesou na decisão de vir a Portugal. Enquanto cá esteve não fez nada de traquinas: foi à praia, pintou uns quadros e passeou em Sintra e Lisboa. Só quando a namorada o abandonou é que ele procurou Pessoa com maior urgência para que o ajudasse a forjar o suicídio na Boca do Inferno. Foi nesse período que estiveram mais próximos e, logo em seguida, Crowley foi-se embora. Isto não é material suficientemente intrigante para se escrever um bom romance.
Nessa óptica, urgia encontrar um bom motivo para a viagem de Crowley e para o contacto com Pessoa. Percebi que teria de ser algo relacionado com a história de Lisboa, com a história de Portugal. Não fazia sentido escrever uma aventura onde Crowley se desloca a Lisboa em busca de um artefacto estrangeiro: tinha se ser algo especificamente português; e, ao mesmo tempo, europeu. Algo interdisciplinar que, sem deixar de ter um carácter português, comunicasse com outras histórias, com outras mitologias. A resposta era óbvia: o mito sebástico!
É a escolha perfeita porque consegue unir com elegância as mitologias de Pessoa e de Crowley e, também, servir de coluna a um romance onde eu possa falar de história e de magia. Faz sentido, do ponto de vista ficcional, colocar Crowley em busca de Pessoa porque ele era um profundo conhecedor do mito sebástico. Assim como na ciência, também na literatura as soluções mais elegantes são as melhores.
Atento o título e o teor da história que resolveste contar, receias que o público leitor possa confundir essa elegância de soluções, que muitas vezes separa a boa da má ficção, com os romances pseudo-históricos de Dan Brown ou Luís Miguel Rocha? Como encaras esse modelo literário que parece ter tomado de assalto o mercado editorial?
Penso que nas próximas décadas qualquer livro será comparado, em menor ou maior espessura, com “O Código Da Vinci”, e isso cinge-se ao impulso que os leitores têm de comparar as novidades com aquilo que já conhecem para se familiarizarem rapidamente com elas. Isso é válido para tudo, não apenas para os livros. O que se passa é que esse livro de Dan Brown foi, para o bem ou para o mal, um mastodôntico sucesso comercial. Que significa isso? Que, provavelmente, toda a gente comprou o livro, leu o livro ou ouviu falar dele. Já nem refiro aqueles que só viram o filme... Avaliando a questão desse prisma é óbvio que qualquer livro que seja editado daqui em diante será medido segundo a escala do “Código”; mas a um nível superficial. Acredito que a maioria dos leitores são mais inteligentes que isso e que são capazes de ler um livro sem necessidade dessas muletas. Romances com personagens históricas são publicados às dezenas todos os dias e já o eram antes de “O Código Da Vinci” ser editado. Pessoalmente, eu acho que o Dan Brown nunca imaginou a aberração na qual o seu livro se iria transformar e que ele apenas quis escrever um bom livro de aventuras inscrito na tradição de thrillers que o antecede.
Escrever sobre personagens históricas pode ser um exercício divertido. Eu já escrevi sobre Nietzsche e William Burroughs, adaptei o “Doutor Fausto” de Thomas Mann para banda desenhada, gravei um spoken-word sobre a história e a mitologia de Lisboa e guardo excelentes recordações do processo criativo desses trabalhos. Escrever sobre Fernando Pessoa e Aleister Crowley foi ainda mais divertido porque são, por mérito próprio, personagens maravilhosos. De qualquer das formas, eu não acho que “A Conspiração dos Antepassados” seja um romance histórico. O solo onde a narrativa é plantada é adubado com bastante rigor histórico e biográfico, claro, mas o enredo é completamente ficcionado. Depois, está recheado de elementos de literatura fantástica que costumam estar ausentes nesse género e, mais importante, tem uma intensidade, um dramatismo, que se relaciona com o facto de ter sido escrito como um livro de horror. Volto a dizer que é uma aventura negra que possui elementos de romance histórico, de thriller, de literatura fantástica e horror. Costumo dizer que acabar de escrever um romance é como ter um filho, mas quem tem um filho é muito mais sortudo porque é bastante fácil definir um recém-nascido: ou é menino ou menina. Agora... um romance?! É mais difícil definir o género de um romance. Dizer-se que um determinado título se inscreve na peugada do sucesso do “O Código Da Vinci”, e epígonos, somente porque fala sobre personagens ou acontecimentos históricos revela falta de imaginação. Trata-se de uma entidade complexa que, a fazer-lhe justiça, não pode ser classificada apenas com um rótulo. É preciso lê-lo, pensar sobre ele.
Falando em géneros, se há um género literário que, em Portugal, está em pior situação do que a ficção científica, é o Horror. Como autor, nas várias vertentes criativas, e como criador com uma “sensibilidade negra”, tens sido o único autor nacional a apresentar consistência no trabalho dentro do género. Há alguma razão para que o Horror não seja tão bem recebido entre nós?
Não sei porque é que não existem mais autores portugueses de ficção de horror ou de ficção científica, mas acho que existe um preconceito enorme dirigido a qualquer espécie de livro que tente contar uma história sem se preocupar com o simples relato de emoções, ideias ou expressões. Também existe um preconceito ainda maior voltado contra os livros que se tornem grandes sucessos comerciais: é um absurdo! A má qualidade de uma obra não se correlaciona com um número de vendas elevado nem um título que venda apenas uma centena de exemplares é, à partida, uma obra de arte. Existem livros que vendem bastante e que são muito bons e outros que não vendem nada, precisamente, porque são péssimos.
Acredito que o horror é, por excelência, o género da ruptura: é assim que eu o vejo. É um género que lida com os assuntos humanos através da transgressão, da ruptura, da noção de danação que advém do conhecimento de si. Todas estas ideias são bastante extremas e é natural que sejam, também, desconfortáveis para a maioria dos leitores. Não há nada de errado com isso... Enquanto leitor, ou espectador, gosto de obras que me provoquem, simplesmente porque gosto de aprender e as situações extremas são excelentes salas de aula para aprenderes um pouco sobre ti mesmo.
Portugal não tem géneros literários de origem, excepto o fenómeno do Novo Realismo que surgiu na segunda metade do século XX como literatura de denúncia política e social. Tudo aquilo que os nossos romancistas escreveram ou escrevem segue os modelos de ficção franceses ou anglo-saxónicos. Os “Vencidos da Vida” do século XIX copiavam os modelos deixados em aberto por romancistas ingleses como George Gissing... Acho que a nossa tradição literária se inclina para a comédia de costumes inaugurada pela Madame de la Fayette no século XVII e tudo o que se afasta desse cânone é, infelizmente, observado como sendo parte menor da literatura. Eu acho que um livro ou é bom ou não é bom, independentemente de fazer parte de uma literatura de género ou de fazer parte daquilo que é considerado pela academia como sendo a alta literatura.
Outra coisa que deve ter influenciado bastante o nosso modo de olhar para a arte deve ter sido o efeito que a tradição religiosa operou, e ainda opera. A inquisição só foi abolida em Portugal há cento e oitenta e seis anos!... Pensar que quase quatro séculos de repressão religiosa não influenciaram o nosso modo de olhar os livros é ingénuo: isso diz muito sobre o modo como a ficção de horror e a ficção científica são mal recebidas aqui e em outros mercados inseridos em países de fortes tradições religiosas.
Um autor que aborda frequentemente uma temática e uma imagética religiosa e escatológica é Clive Barker. Nota-se, na tua obra, uma marcada influência barkeriana. Se é certo que todos os autores buscam imitar os seus escritores favoritos (“retribuir-lhes o prazer da leitura”, como diria Borges), que outros autores ou cineastas te marcaram mais?
Quando escrevo não penso em nenhum autor. O que me interessa é capturar o tom da história que estou a escrever e isso é algo que apenas se aprende com a experiência da escrita, porque não pode ser ensinado de outra forma. Relaciona-se com a voz autoral, mas é uma coisa diferente. Acho que cada autor fala com uma voz distinta: as influências são os sotaques. É possível que tenha um pouco de sotaque barkeriano porque o Clive Barker é um dos meus autores preferidos.
Outro autor que gosto muito é o escritor alemão Günter Grass. Vi o filme “O Tambor”, de Volker Schlöndorff, que adapta o romance homónimo de Grass para o cinema, quando andava na segunda classe e fiquei muitíssimo impressionado. Era grotesco: nunca tinha visto nada parecido! Tinha montes de nudez e sexo, muito perverso, e era, igualmente, muito violento. Acho que a mistura de sexo com a violência, mais o ambiente negro e fantástico, me influenciou muito. Mais tarde li o livro e descobri que era ainda mais extremo que o filme.
Gosto de escrever sobre sexo e tento escrever sobre sexo como parte do horror e não como uma fuga ao horror. Acho que o sexo pode ser uma experiência aterrorizante: é um momento onde se está bastante vulnerável e onde se comunga com outro corpo, com outra mente. O sexo transforma-nos; e se não tivermos cuidado transforma-nos naquilo que não gostaríamos de ser.
Gosto de muitos autores diferentes, mas quando escrevo só penso em mim: naquilo que me está a ser sugerido pela narrativa e como isso afecta o tom que desejo imprimir nas palavras. Costumo ler em voz alta para ouvir o ritmo das frases e se eu não gosto do que ouço, mudo-as. Foi algo que trouxe para a escrita depois de ter gravado o CD “Lisboa”: tento que o texto funcione como uma história contada oralmente. Acho que isso fortalece muito o resultado final porque se acaba por conseguir algo hipnótico, harmonioso. Eu gosto bastante disso! Não tenho ouvido para a música, mas penso que tenho ouvido para as letras.
E jeito para o desenho. Se te pedissem que escolhesses um livro de Horror para adaptar a Banda Desenhada, qual escolherias? E porquê?
Não me lembro de nenhum, mas a BD tem grandes obras originais de horror. O autor japonês Junji Ito é um grande exemplo: “Uzumaki” é uma das melhores obras de horror que já li; é mesmo perturbante e o final é grandioso. Sobretudo é uma obra de horror pensada para ser uma banda desenhada, com cenas imaginadas para esse formato! Penso que as adaptações em BD de romances de horror não são grande coisa, mas as histórias originais de horror em BD costumam ser bastante eficazes.
Pode-se fazer coisas assustadoras em BD... Lembro-me do álbum de Alberto Breccia com adaptações de contos de Lovecraft, mas o Breccia era um mestre! É uma obra genial com soluções gráficas brilhantes. Já a biografia em BD sobre Lovecraft que o filho Enrique Breccia desenhou deixa muito a desejar.
Acho que gostaria de ver alguém adaptar os “Contos da Chuva e da Lua”, de Ueda Akinari, porque consiste em material muito visual e ficaria perfeito se representado com algum surrealismo, algum experimentalismo abstracto. Uma espécie de Mark Rothko meets Kaneto Shindo. Cor, ambiente onírico e violência gore: eu estaria na linha da frente para os autógrafos.
Terminado o primeiro romance, com vários volumes de contos e álbuns de BD no currículo, a seguir, que projectos?
Tenho muitas histórias que quero escrever, mas ainda não sei qual delas será o meu próximo trabalho. Tenho uma ideia em desenvolvimento para um grande romance sobre Lisboa, algo que quero muito fazer porque se trata de uma coisa que ainda não experimentei: um épico! Também tenho muitos argumentos de BD que quero tirar da gaveta, se encontrar desenhadores com vontade de trabalhar, porque adoro essas histórias e quero vê-las cá fora. Ainda tenho muitas ideias para contos. A verdade é que nunca consigo parar durante muito tempo. Sou um contador de histórias: sei o que sou e o que preciso de fazer para ser feliz e faço-o! Não perco tempo com coisas inúteis.








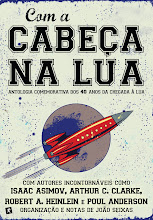










































Sem comentários:
Enviar um comentário