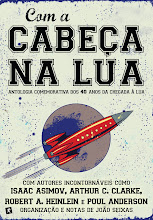Que melhor forma de celebrar o evento do que iniciando uma série de entrevistas com os autores portugueses do Fantástico?
A começar por ele…
Nascido em 1952 e Licenciado em Filosofia, organizou em parceria com a Cinemateca Portuguesa e a Fundação Calouste Gulbenkian o Grande Ciclo do Cinema de Ficção Científica, em 1984. Dirigiu duas colecções com objectivos ambiciosos para o género em Portugal, tendo publicado a primeira tradução a nível mundial do NEUROMANTE de William Gibson, em 1985. É o autor de O CAÇADOR DE BRINQUEDOS E OUTRAS HISTÓRIAS (1993), TERRARIUM (com L.F. Silva, 1995), A VERDADEIRA INVASÃO DOS MARCIANOS (2004) e DISNEY NO CÉU ENTRE OS DUMBOS (2006).
Barreiros, depois de um interregono de dez anos, entre a publicação do TERRARIUM (1995) e da A VERDADEIRA INVASÃO DOS MARCIANOS (2004), no qual publicaste apenas um conto por ano nas antologias da Simetria (1996-2000), os últimos meses assistiram à publicação de duas noveletas (uma pela Saída de Emergência e outra pela Livros de Areia), à republicação de um conto de 1995 (pela Chimpanzé Intelectual) a qual foi também traduzida e incluída na EUROPEAN SF HALL OF FAME (2007); Aguarda-se para os próximos meses a publicação de A BONDADE DOS ESTRANHOS: PROJECTO CANDYMAN (Chimpanzé Intelectual) e uma colectânea dos teus contos dispersos (pela Livros de Areia), um conto numa antologia sobre brinquedos, AS IDADES DO BRINQUEDO (2007) e um de horror, SE EU MORRER ANTES DE ACORDAR (também pela Chimpanzé Intelectual). Para além disso, voltaste a assinar críticas para o Público. Sentes que aos 55 anos, começas a obter o reconhecimento que mereces?
Penso que o que aconteceu não passa de um mero exercício de sincronicidade. Mas lá pelo facto de eu ver publicado um conto aqui e ali, isso não quer dizer que um determinado autor seja lido. Os livros continuam a vender-se pouco. Os adultos deixaram de ler FC. E os jovens só lêem fantasia infanto-juvenil. Os editores, mesmo aqueles que publicam obras próximas do fantástico, recusam-se a pés juntos a publicar seja o que for que se passe no futuro, mesmo que esse futuro seja o dia depois de amanhã. Continua a não existir uma crítica especializada: — note-se, por exemplo, que nenhum jornal falou do DISNEY nem da VERDADEIRA INVASÃO... E também estou quase certo que ninguém falará da BONDADE...
Numa nota recente da Caminho, fui informado que quanto às vendas do CAÇADOR e do TERRARIUM, nenhum deles ultrapassou os 800 volumes. E é de lembrar que já faz 10 anos desde a publicação do TERRARIUM. Portanto a minha “invisibilidade” permanece tal qual.
Ao contrário de outros autores, nunca fugiste à Ficção Científica, mesmo quando escreves no modo do horror. Porquê esta fidelidade a um género que a intelligentzia portuguesa despreza?
Por uma questão de militância. De marcar posição. De fazer frente ao passado. Por me divertir, sonhar o futuro ou mesmo ter saudades dele. Porque escrevo como uma forma de prazer onde o mundo inteiro é espectáculo. Prefiro mil vezes esse universo exterior, esse universo-como-personagem do que a circularidade do meu umbigo, a poesia sem rima, e todas as temáticas urbano-depressivas sobre conversas de cama e morte de familiares. O quotidiano aborrece-me. Os super-mercados nauseiam-me. Noites de farra aborrecem-me o fígado. Sobre que falar então? Dizia alguém que toda a linguagem é metafórica. Mas a FC é o único género onde a metáfora é realista, onde todas as palavras terão de ser cuidadosamente medidas. Aqui, "um céu demasiado azul", implica a possibilidade do sol se estar a transformar numa gigante branca...
A alienação da FC por parte do establishment cultural encontra um espelho tão tortuoso quão divertido nos E.T. que povoam as tuas obras: desde Mr. Lux no TERRARIUM que colecciona avidamente todas as pulps, até às tenebrosas aranhetas que estrebucham quando Chekov é interpretado num palco. Porquê esta fixação que os alienígenas barreirianos nutrem pela “nossa” FC?
Uma ideia que sempre me fascinou, mas que raramente vi tratada por outros autores, é pensar que os alienígenas, se é que existem, poderão ter formas de Arte. E que essas mesmas formas de arte resultarão perfeitamente incompreensíveis quando colocadas perante os nossos olhos.
Brian Aldiss tratou desse assunto de uma forma quase escatológica quando colocou os seus extra-terrestres a viverem uma profunda experiência estética perante as respectivas poias. Inversamente, também poderemos perguntar o que sentirão eles ao ler... bom, digamos, o Proust ou o Saramago? No ciclo das Aranhetas incluí o conceito de que todos os textos demasiado “literários” possuem uma densidade assassina. A leitura mata alienígenas, literalmente. Como se fosse uma arma. Como se um “clássico” tivesse, como subtexto, uma espécie de meta-mensagem onde as depressões do seu autor resultariam em ordens subliminais de auto-destruição.
Pela minha parte pergunto-me se os proverbiais extra-terrestres também escreverão FC. E que pensarão eles de nós, os tais “monstros de olhos achatados”?
Já o herói barreiriano, ao contrário, por exemplo, do engenheiro heinleiniano, é um tipo que está constantemente no lugar errado, na hora errada, a fazer a coisa errada. E, no entanto, tem sempre uma convicção interior muito forte. São como miúdos traquinas, que encontram na tecnologia o supremo dos brinquedos. São reflexos do teu próprio papel nos meios da FC e da literatura?
Yeap. Como dizem os nossos amigos britânicos, “shit happens, and happens at the worst possible moments”. Os meus personagens são exemplos disso. Talvez essa marca esteja mais presente na minha última novela, A BONDADE DOS ESTRANHOS: PROJECTO CANDYMAN.
A revolta de Joana contra uma instituição que a tramou, seja ela humana ou alienígena, só pode ser catastrófica. Quem teve infâncias monstruosas comete actos monstruosos quando adulto. Mas em boa verdade, é aborrecido estar sempre revoltado contra o mundo. A raiva perante a estupidez ou a ignorância é um sentimento que nos consome. Não me apetece passar a vida a tomar anti-ácidos. Porque afinal o meu coração respinga de uma “bondade” incontida.
E embora as minhas histórias sejam hiper-violentas, isso serve um pouco como forma de terapia. Na vida real posso ser bondoso como um cordeirinho acabado de nascer...
Mark Twain inventou esse conceito genial no seu livro “Um Yankee na corte do Rei Artur”.
Lembro-me ainda do THE MAN IN BLACK, do John Brunner, onde um “exorcista” renegava todas as bolsas de “magia”, graças a uma atitude racional e positivista. Recordem-se da série de fantasia da Sheri Tepper, THE TRUE GAME, onde nevava em todas as batalhas onde participavam magos, pois estes iam roubar energia térmica ao espaço em volta, para os seus feitiços.
Ou as minas no centro da Terra, onde vivem os demónios, e os humanos vão sacar-lhes as “poias” cristalinas, que muito valem no nosso mundo. Sem esquecer toda a “tecnologia” necessária para as recolher. Não percam o ciclo de Nifft, the Lean, do brilhante autor Michael Shea, que infelizmente tão pouco escreve.
As oportunidades de sabotar o esquema da fantasia introduzindo nele pequenas gotas do pensamento científico são muitas e memoráveis. Pensem em Jack Vance, China Mièville, Scott Lynch, Steven Erickson, para apenas citar alguns exemplos.
O problema não está aí. Localiza-se principalmente numa falha de imaginação, ou mesmo de ousadia, pois, tal como acontece na FC, autor que não tenha nunca lido antes fantasia, corre o risco de reinventar a roda. Estes jovens autores deveriam ter uma mão editorial que os ajudasse, que lhes dissesse que deveriam ganhar um pouco mais de maturidade. E que deveriam ler muito, muito mais antes de começarem a escrever.
Mas é também uma doença cultural, claro. A desconfiança no futuro. O medo da mudança. O peso do imaginário judaico-cristão que força autores e leitores a criarem heróis positivos, sempre a combaterem contra as forças das Trevas. Ah, que saudades da BLACK COMPANY do Glen Cook, onde os heróis eram uma horda de mercenários malvados e violadores, a combaterem pelo lado das trevas...E recordam-se do Thomas Covenant, o herói leproso de Stephen Donaldson que logo nas primeiras páginas, chegado ao mundo da fantasia, “viola” uma jovem que se prestou a ajudá-lo?
Aqui para nós, digo o mesmo que Steven Erickson já disse algures: Se voltar a ouvir falar de uma jovem guerreira a querer lutar contra as forças do Mal, vomito. Pronto. É uma atitude assaz escatológica, concordo, mas talvez seja a única possível.
Dirigiste colecções na Gradiva e na Clássica, foste publicado pela Caminho, Presença, Saída de Emergência, Livros de Areia e chimpanzé Intelectual: como vês o papel das editoras portuguesas?
Bem que gostaria, nestas curtas linhas, de glorificar o heróico papel das editoras portuguesas na defesa do género. Infelizmente não é esse o caso.
As velhas editoras que publicavam FC, publicavam-na a medo, quase sem nenhum investimento. Tinham tendência a escolher as piores obras dos piores escritores pois os direitos de autor eram muito mais baratos. Não queriam publicar obras com mais de 200 páginas, excluindo assim, para todo o sempre, livros memoráveis como o STAND ON ZANZIBAR do Brunner ou o RIVER OF GODS do McDonald, para apenas citar dois exemplos.
Depois não se investia em bons tradutores. Para quê?, perguntavam as Editoras. Não será a FC uma para-literatura, dedicada aos geeks e aos adultos com problemas de crescimento emocional?
Outras editoras preferiam apenas publicar tie-ins, dizendo que eram precisamente esses livros que garantiam a publicação ocasional de outros melhores que ninguém iria ler.
A verdade é que todas elas acabaram. Hoje em dia não há em Portugal uma única editora a publicar FC. Os editores, quando pensam publicar qualquer coisa no domínio do fantástico, pedem ao agente literário que lhes envie qualquer coisa simples, barata, e sem grande exigência estilística.
E quando por mero acaso publicam FC sem o saberem, como no caso da ESTRADA do Cormac McCarthy, louvam-no como algo de profundamente original como se a FC não tivesse já tratado desse tema muito, muito antes e muito, muito melhor.
Ou chega a acontecer que um editor “esconda” que o livro é de FC, e na capa, em vez de um disco voador, ponha uma “passarola”, quem sabe para não assustar as “tias” que costumam ler romances históricos.
Provavelmente estão a defender-se ao procurarem vender um produto com outro rótulo. Mas a FC é um anátema, sim, para qualquer editor que se preze. É por isso que não existe uma única revista do género a ser publicada em Portugal.
Se eu fosse rico, se tivesse milhões de euros para estoirar, gostaria de publicar uma colecção de FC a sério, com boas obras, bons autores, bons tradutores, boas capas. Para que em seguida pudesse dizer, “depois de mim, o dilúvio”.
E se te convidassem para organizar outra colecção de Literatura Fantástica, hoje, que títulos escolhias?
Na FC escolheria Space Operas, começando pelas mais comerciais, tipo David Weber, mas sem esquecer Baxter, Reynolds, Hamilton, Banks. Talvez uma FC militarista, pós-Heinlein, tipo David Drake, David Feintuch ou Elizabeth Moon. E porque não a série do Miles da Lois McMaster Bujold?
Em Fantasia há sempre um Scott Lynch, um Abrecombie, um Donaldson, uma Martha Wells, um Sean McMullen, uma Robin Hobb... No horror há sempre um McCammon, um King, um Straub. Tudo depende da promoção...
E pelo inverso: se te pagassem principescamente para escrever uma fantasia juvenil… que história contavas?
A história de uma cidade com uma Torre imensa, uma torre que ligava o céu às profundezas do inferno habitado por demónios. Essa torre teria um balancé interior, uma espécie de giroscópio interno que a manteria direita. A história trataria de um jovem artesão, chamado Filipinho, responsável pelas engrenagens que mantêm o giroscópio funcional. Até que um belo dia...
Apesar de não teres sido o primeiro autor de FC em Portugal, a qualidade e ímpeto dos teus textos, e a acutilância das tuas críticas, rapidamente te erigiram como o “expoente” da FC portuguesa. E, desde a tua primeira publicação semi-amadora (DUAS FÁBULAS TECNOCRÁTICAS, 1977), continuas sem “rival” à altura, apesar da manifesta qualidade de autores como o Luís Filipe Silva. Como vês hoje a FC portuguesa? Em que mudou desde que começaste a escrever?
Ora, nada. Ninguém escreve FC em Portugal, a não ser uma ou outra obra de cariz amador, publicada em edições de autor que logo são engolidas pela Grande Noite. Gostaria que o Luís Filipe Silva voltasse a escrever sem se preocupar com as posições dos intimistas ou urbano-depressivos. Gostaria que um certo João Seixas tivesse tomates para terminar a sua parte do tríptico.
Quando eu e o LFS escrevemos o TERRARIUM (até agora julgo eu, o mais volumoso livro de FC nacional jamais publicado na história do género) julgámos que ele ia abrir portas, entusiasmar novos escritores como uma forma de desafio para que nos suplantassem em tamanho e ousadia. Nada disso aconteceu. O TERRARIUM foi como que o canto do cisne.
Bem que gostaria de ter um rival. Ou mesmo dois ou três. Mas nada.Escrever no vazio, sabe-se lá para quem, dói que se farta.
Numa recente visita à Polónia que, como toda a gente sabe, não “existia” antes dos anos 50, encontrei livrarias imensas, com secções avultadas dedicadas à FC, com quase “tudo” traduzido e, para grande espanto meu, mais de 20 autores polacos todos eles com obras de FC disponíveis (e não estou a falar aqui da fantasia). Ter na frente aquelas fileiras de autores polacos — autores a que nunca poderei ter acesso por causa da língua — encheu-me de uma surda tristeza. Lembro-me de um livro enorme, que o Michael Kandell muito louvou, OCEANO NEGRO, de um tal Jacek Dukaj, ao que parece uma resposta sublime ao STAND ON ZANZIBAR. É terrível pensar que a Polónia defende os seus autores, que há quem os leia e os publique.
E que aqui, nada existe, nem vai existir no futuro próximo pois a iliteracia continua a crescer como um cancro.
A FC tradicional está a envelhecer. Os grandes autores da Golden Age estão hoje extintos. Os da terceira geração (pós-New Wave) andam a morrer como tordos. Os livreiros conglomerados só apostam em mega-bestsellers, o que significa que a FC foi varrida das estantes da maior parte das livrarias. Um pouco por todo o mundo as livrarias “especializadas” foram mergulhando no abandono e na falência. Tome-se à guisa de exemplo, a extinção da maravilhosa MURDER ONE em Charing Cross Road.
Um autor conhecido deixa de ser publicado porque os editores preferem apostar na edição da primeira obra de um jovem arrivista. Mas a verdade é que este desgraçado só pode publicar quatro vezes na mesma editora antes de ser escorraçado para as trevas exteriores. Todos eles dependem da análise estocástica das futuras vendas. E se essa previsão do futuro não se revelar propícia...então...
Mesmo assim a FC britânica, principalmente o novo género da Space Opera Gótica continua sublime. E porque estes senhores continuam a escrever pelo menos um livro por ano, está salva a honra do convento.
Leiam por favor Ian McDonald, Ian R. McLeod, Peter F. Hamilton, o Alastair Reynolds, Jon Courteney Grimwood, Ian R. Banks para apenas citar alguns. São eles que mantêm a chama acesa. Quanto a eles serem publicados em Portugal...ah...tristes tristezas!
Que consideras ser necessário para inverter essa situação nesta lusa periferia? Ou é mesmo um beco sem saída?
Para inverter a situação seria necessário que as Editoras começassem a publicar livros “diferentes”, mesmo que nada ganhassem no início. Depois teria de haver programas na TV dedicados ao género, clubes de leitura, livrarias especializadas e...mais do que tudo, duas ou três revistas mensais, bem produzidas, bem ilustradas, a anos-luz das BANGs, por exemplo.
E depois sessões de hipnagogia sob as almofadinhas de todos os bebés, a dizer-lhes o que devem ler.
Infelizmente já chegámos tarde. Os miúdos, hoje em dia, são filhos de duas gerações que nunca leram. As casas deles, mesmo os que são filhos de professores, não têm livros, portanto como hão-de eles iniciar o processo de leitura? As bibliotecas das Escolas nada têm que seja novo ou diferente. E, como os professores responsáveis por essas bibliotecas também não lêem, como hão-de eles estimular os miúdos? Desconheço quais as obras que foram incluídas no Plano Nacional de Leitura para os jovens das Escolas. Mas desconfio que, entre elas, não haverá um único romance de FC. Lembro-me que, aqui há alguns anos, os meninos do Colégio Francês liam as CRÓNICAS MARCIANAS do Bradbury, e faziam eles muito bem.
E, já agora, como farias para introduzir à literatura fantástica uma nova geração de leitores jovens, atafulhados em playstations, DVD e telemóveis 3G?
Seria muito difícil. Os jovens hoje em dia sofrem, como já disse, de iliteracia. Isto quer dizer que, mesmo sabendo ler, não percebem aquilo que leram. Tive disso um belo exemplo quando na Escola onde sou professor, uma turma do 10º ano tentou ler o DISNEY NO CÉU...Só rir, só rir...
A título de exemplo, disseram que não tinham gostado do fim, porque acabava mal...porque é que eu não o reescrevia? Acabar mal, exclamei espantado! Mas tem um happy end múltiplo: A Suzana ganha porque defendeu a prole. A prole ganha porque pôde nascer aos milhões. Marklin ganha porque conseguiu fugir à Suzana. O Rato Negro ganha porque atingiu a Singularidade gnóstica. As ninhadas de ratinhos ganham porque se puderam reproduzir em grandes orgias. A Diáspora ganha porque pôde deitar as mãos a um gerador de hiper-espaço. Afinal ganharam todos e viveram felizes para sempre.
E ao dizer isto vi os olhares aterrados das criancinhas e professoras, sempre habituadas ao triunfo monolítico do Bem contra o Mal.
Mas sugiro a leitura comentada de contos escolhidos a dedo. Sugiro clubes de cinema e ateliers de escrita criativa, na escola, e não só.
E por falar em escrita criativa: qual é o método de escrita do João Barreiros? Qual é o segredo do sucesso, atendendo a que qualquer pessoa que já escreveu contigo sabe que és um autor rápido e profíquo...
O plot nasce com uma imagem única que depois se divide para trás e para a frente da árvore narrativa. Depois é esperar a possessão da Musa, que chega em sonhos ou nos momentos mais inopinados do dia.
É uma forma terrível de submissão a uma força maior que me deixa esgotado e a tremer de frio.
Quando a Musa surge, as coisas avançam, mosaico a mosaico. Quando não chega, as histórias morrem a meio. A maior parte das vezes as soluções do plot chegam em sonhos como uma intuição. No caso da BONDADE vivi vários meses com a imagem sufocante de um jardim implacável onde a Joana andava perdida.
O que nos leva à inevitável questão: Barreiros, esta actividade é para continuar? Tens mais projectos em mão?
Bom, estou a pensar escrever um romance steampunk a meias com um certo senhor que todos conhecem. É também uma história alternativa, pois aqui as teorias criacionistas são verdadeiras. As vagas criacionistas espalham-se em ondas, pelo Cosmos, alterando tudo por onde passam, reformatando a vida nos planetas por onde já passou uma onda anterior. O que aconteceria ao nosso mundo se sofresse dois impactos sucessivos, um no Séc. XVIII e outro no inicio do Séc. XXI?
Ah, o romance steampunk, pois… errr… estou atrasado com isso, não é?