
Edward Lee (Lee Edward Seymour, n.1957) começou a escrever em 1982 com "Nightbait", sob o pseudónimo Philip Straker. Desde essa data até hoje, publicou uma boa vintena de obras, caracterizadas pelo extremismo gráfico da violência e pelo recurso desabridoa situações sexuais. Em 2005 publicou este "Flesh Gothic" pela Leisure Books (ISBN: 0-8439-5412-4, 404 páginas).
Há algo de orgânico num enorme casarão, algo que, como nos dizia Shirley Jackson, vagueia solitário pelos corredores vazios. A casa assombrada foi um dos elementos essenciais que o Gótico veio introduzir nos cânones do horrível. O espectro do monarca traiçoeiramente deposto que habita ainda as paredes manchadas de sangue em busca de justiça. Há sempre uma situação cuja resolução não foi ainda obtida, que ultrapassa as barreiras do tempo na prisão de um espaço excêntrico; porque, nestas casas assombradas, filhas de uma concepção vitalista da natureza, é a irregularidade do espaço que nos dá o primeiro sinal de que aquela casa se encontra ‘animada por um poder que gera perplexidade nos seus habitantes e em quem a visita’ (Manuel Aguirre, The Closed Space). A arquitectura, e a geometria são como estigmas diferenciadores, seja o ‘longo labirinto de trevas’ do Castelo de Otranto, ‘o lugar de orgulhosa irregularidade” de Udolpho, ou a casa onde ‘nenhum ângulo se mostra verdadeiramente correcto’ como Hill House.
Que Edward Lee trata aqui de uma casa assombrada é algo de que o leitor se apercebe ainda antes de o seu narrador nos dizer que a “The mansion looked maniacal" (pag.37). A belíssima ilustração de capa de Erik Wilson, em biliares tons de magenta, mostra-nos as águas furtadas de uma mansão Eduardiana, com sinistros gárgulas empoleirados nos beirais como anjos petrificados prestes a ganhar vida. E o título, Flesh Gothic, intima a uma confluência da casa assombrada e da mais visceral orgânica da carne pois, como rapidamente nos aperceberemos ao mergulhar na leitura, é de pecados carnais que se trata, mais do que da carne que ornamenta as montras dos talhos, a qual não é escassa nas páginas ensanguentadas deste livro. Do que o leitor não se aperceberá imediatamente é de que Lee aponta para uma nova concepção de casa assombrada, quiçá não revolucionária, ou mesmo totalmente inovadora, mas porventura tão pobremente explorada que lhe permitiria a construção de um clássico menor do género; mas Lee parece não se aperceber disso (ou, apercebendo-se, descarta a oportunidade por uma mais comercial exploração do tema por si escolhido), perdendo mão da ideia a pouco mais de metade da obra, deixando-a contorcer-se-lhe entre os dedos e escapar-lhe por completo rumo a um mais confortável nicho de familiaridade. O mesmo é dizer, o leitor apenas tarde de mais se aperceberá que o Lee que escreveu Flesh Gothic, não é o mesmo que assinou The Teratologist (2003), ou pequenas pérolas como “Mr. Torso” (1994).
E, no entanto, tal facto devia ser evidente desde as primeiras páginas, onde Lee abdica desde logo de qualquer subtileza, rasgando-nos de imediato a realidade quotidiana para permitir que hediondas sugestões de um mundo para além do nosso espreitem momentaneamente pelas frestas assim abertas; uma sem abrigo que se degola imediatamente após entregar uma sinistra mensagem, possui ‘dentes podres como comprimidos estragados’ (rotten teeth, like corroded pills, pag.7), o que não é uma metáfora muito imaginativa, ou sequer expressiva. Tal como não o são os muitos e familiares omens que desde o Exorcista (1973) têm povoado o imaginário sobrenatural; o bêbado que revela um inexplicável conhecimento da vida privada dos personagens, as vozes dos mortos que se fazem ouvir em gravações de salas vazias, ou os mais diversos figurantes que se apresentam como mensageiros do além.
A história conta-se entre o prólogo e o epílogo (não é assim com todas as histórias?), desenhando-se numa analepse que pretende unir os fios condutores da partida e da chegada; quando o livro se abre, notamos desde logo uma fixação com a fecundidade. Um homem e uma rapariga, ele cinquentão, ela adolescente grávida, fogem como sombras pela geografia americana, cuidando de não deixar rasto de cartões de crédito, de identificações pessoais, de passado. Lee entrega-nos desde logo à chuva de Seattle; a intempérie faz com que o mundo se assemelhe a um aconchegante e ameaçador saco amniótico, as águas prontas a rebentar. Poucos livros serão tão líquidos como este, e certamente nenhum de que agora me recorde, tal é a profusão de sangue, esperma, visco, suor, gordura e mesoplasma que escorre das suas páginas. Rara é a circunstância em que algum personagem se não encontre coberto de líquido ou em contacto com ele – afinal trata-se de um livro quase pornográfico, sobre pornografia, no qual o suor, o sangue e o ejaculado desempenham papéis primordiais. E que curiosa ironia que o homem sem nome, que no longo parto da analepse vai desempenhar um papel essencial (dentro dos parâmetros que à frente discutiremos), seja um ex-alcoólico, agora abstémio (de alcóol e de sexo), que consequentemente não ingere nem expele nenhum dos líquidos do prazer pecaminoso, nenhum dos néctares das flores do mal. Quando o conhecemos ele olha para a rapariga, ‘uma imagem tremendamente erótica (…) vestida apenas em cuequinhas e soutien. (…) O soutien era demasiado apertado, dado o crescimento pré-natal; os seios ameaçavam saltar para fora’ (pag.1-2). A rapariga, ainda sem nome, assemelha-se a uma primeva deusa da fertilidade, cultuada desde logo pelo careca mal apresentado que os aborda nas escadas do flea motel onde se abrigam (Hey, man. I saw that cute little pregnant chick you brought in. I’m into that too, you know? What’s she charge for an hour?). Um culto humilhante, redutor, que no entanto serve de prenúncio ao que se segue. E o que se segue, é o longo período de gestação da analepse, que se inicia com o revelador Nove meses atrás…
A narrativa divide-se numa clássica estrutura de três partes. A primeira, SLAUGHTER NIGHT, a Noite do Massacre leva-nos de imediato ao cenário de pesadelo que foi Hildreth Mansion, naquele três de Abril, pelos olhos de Faye; Faye é-nos apresentada em fragmentos, tal como ela se percebe a si própria em fragmentos, gorda e nua (mais um símbolo de fertilidade neolítico de forte carga significativa), viajando pela casa sob o efeito de drogas. O seu percurso, pincelado em tons de sangue, recorda um filme de John Waters em que a cinematografia fosse assinada por Delacroix. O nosso périplo, arrastados que somos pela divindade fecunda, inicia-se por uma orgia, onde Faye recebe vários pénis na boca, é levada ao orgasmo por uma mulher, tem uma arma apontada à cabeça, que ignora se disparará por simpatia, por imitação, quando o felattio atingir o seu fim natural, uma dupla ejaculação de fogo e morte. A simbologia de vasos transmissores, veias e canais, repete-se pelos corredores da casa por onde Faye deambula, um corredor de corpos mutilados, a crueza de pisar um testículo arrancado do casulo escrotal. As descrições são brutais, sujas, inestéticas. Quase podia dizer-se que desprovidas de poesia. Lee assemelha-se a um Bosch descrevendo os horrores do Inferno como mentes mais simplistas gostam de o imaginar: a morte como caricatura do humano. Caricatura que atinge o seu apogeu (o apogeu da jornada de Faye) nas entranhas da própria casa, onde as paredes são feitas de carne, como já antes o foram no imaginário de Clive Barker e naquela outra cidade, de Luís Filipe Silva.
Hildreth Mansion é o cenário e a principal personagem da narrativa, como não pode deixar de acontecer em qualquer conto de espaços assombrados; o espaço é o motor da história mas, como nos recorda Joe Haldeman no seu recente Old Twentieth (2005, publicado entre nós pela Europa-América com o título O Velho Século XX), ‘se o cenário não for credível, as acções das personagens carecem de significado’. E o significado da acção centrar-se-á nos acontecimentos que nos foram truncadamente descritos naquelas primeiras sete páginas, naquela orgia apocalíptica, quase se diria holocaustica, onde as duas tensões máximas, do prazer sexual e da morte, encontram uma dimensão transfigurativa: num universo prenhe de almas incorpóreas, são as acções puramente físicas, da cópula, do desmembramento, e da morte, que conferem sentido ao novum. A orgia inicial repetir-se-á, fragmentada, ao longo da restante trama narrativa, mementi morii que exsudam das paredes da mansão, como uma pulsão para a representação de tais actos num ritual inconsciente. A casa gótica é um cenário vivo, ideia que Lee reforça ao equipar Hildreth Mansion com câmaras, microfones e intercomunicadores que tornam o espaço multifacetado numa paisagem sensória inescapável. Hildreth Mansion é, assim, a primeira personagem que nos é apresentada, exigindo que as demais a complementem de forma satisfatória, individualizada, e reactiva.
E é aqui que o controlo da narrativa começa a escapar das mãos do autor. Porque os demais personagens, quatro psíquicos, um escritor e dois ex-porn stars, são pouco mais que figurantes nas mãos daquele que, esquecido do papel discreto que se lhe impunha, assume o papel de personagem determinante: o narrador impessoal e omnipresente. Chamados por Vivica Hildreth, viúva do organizador do massacre ritual, ao cenário/personagem de Hildreth Mansion para investigar os acontecimentos daquela noite fatídica, são-nos sucessivamente apresentados Westmore, o escritor ex-jornalista alcoólico, Nykvysk, o ex-padre homossexual e exorcista, Adrianne, a psíquica especialista em OBE (out of body experiences), ex-militar onde serviu para encontrar Saddam Hussein durante a Gulf War II, a sensual Cathleen, igualmente psíquica, telequinética e ex-estrela de televisão, Willis, uma espécie de Johnny Smith, ex-médico, que padece de visões através do tacto, Karen e Mack, dois ex-porn-stars e, agindo por conta própria, Clements, o ex-polícia obcecado com o desaparecimento da jovem Debbie Rodenbaugh, que está convencido se encontra prisioneira na casa juntamente com um aparentemente morto Richard Hildreth. Todos eles são ex-qualquer coisa, sobras daquilo que já foram. Sombras em busca de identidade, de uma identidade que lhes dê consistência. De certa forma, são menos do que a própria casa que se nos apresenta, ab initio, como possuindo um corpo carnal, um espírito, uma vontade. Ultrapassado o sexo e a morte (todos são de alguma forma afligidos por disfunções sexuais, que impõem uma abstinência orgásmica ou um excesso carnal), estão às portas de uma nova ressurreição, ainda em vida, e a sua experiência em Hildreth Mansion pode ser o gatilho desse momento determinante. Como qualquer leitor minimamente atento saberá desde logo – desde o prólogo – Hildreth Mansion não lhes possibilitará tal renascimento.
A moderna casa assombrada não é já meramente habitada por espíritos irrequietos, é ela própria uma entidade viva. Predatória. Que devora aqueles que percorrem os seus corredores. The Haunting of Hill House (1959) de Shirley Jackson, Hell House de Richard Matheson (1971), Burnt Offerings (1973) de Robert Marasco, The Shinning (1976) de Stephen King ou The House Next Door (1978) de Anne Rivers Siddons tornaram tal facto num arquétipo da moderna literatura de Horror. Mas talvez ninguém o tenha dito de forma tão clara como Herman Raucher em Maynard’s House (1980): ‘Faz parte da natureza da casa absorver os seus ocupantes, como que mantendo-os vivos para sempre’. Hildreth Mansion, tal como as suas antecessoras, é um parasita (They will turn that house into a great big mouth, that’s gonna eat you. It’s gonna suck you all down and swallow you, p.315). Se o castelo Gótico era assombrado por espíritos em busca de justiça, pela vital incompletude que as paredes retêm como moscas em âmbar, a moderna casa assombrada ganha a sua vitalidade animista pela absorção transfiguradora das pulsões dos seus ocupantes (‘I think that an atmosphere like this can find out the flaws and weaknesses in all of us, and break us apart’, Shirley Jackson, Hill House, pag.105). E as falhas e fraquezas dos presentes ocupantes de Hill House, tal como daqueles no seu passado, prendem-se com o sexo. O sexo em todas as suas formas e expressões. Na casa de Hildreth respira-se uma atmosfera de pan-erotismo. Um dos encarregados da limpeza da mansão diz sentir uma sensação estranha quando está na casa.
‘Like you’re in a graveyard and someone is watching ya… (sugere o seu companheiro).
Mas não. É algo mais prosaico.
‘(Sometimes) I’d feel horny. I’d be standing there scrapping dried blood and guts off the floor in a room where a bunch of people were murdered, and I’d pop a woody (p.28).
Karen entrega-se a um banho de sol com o fato de nascimento no pátio da mansão, de uma mansão cenário de orgias registadas nos milhares de DVDs pornográficos que se multiplicam pela casa; ‘a fonte tinha sido desligada, um gárgula com a boca seca que parecia olhar para ela concupiscente' (pag. 219). Quando Cathleen se despe no cemitério, ‘her innerself felt something stir at once, some thing beyond her. Seikthis or Lieppyas – benevolent spirits which inhabit trees or congregate near graves – or simple curious wraiths attracted to her sudden nudity. Ghosts, or even buoyed souls’ (p.108). Todo o universo, visível e invisível aparece como voyeur, como se manifestasse um desequilíbrio entre a reprodução e a morte.
Mas é sinal da fraqueza de Lee como autor que tudo isto pareça mais interessante do que realmente é. Desde o primeiro momento em que põe os pés na casa, qualquer pretexto é bom para as personagens se despirem (à semelhança, porventura, das narrativas pornográficas que, por um motivo ou outro, são constantemente reproduzidas no leitor de DVD); todas as personagens femininas (e algumas masculinas), são, à vez, submetidas a ‘para-planar rapes’, uma expressão interessante para uma queca inter-dimensional, tal como foram popularizadas pelo The Entity de Frank deFellitta em meados dos anos 70. Mas se as provações de Carlotta Moran, eram enriquecidas pela angústia que sublinhava o autêntico carácter de violação, as personagens de Lee, tal como as dos filmes porno, parecem retirar do sexo forçado um sensação de normalidade e satisfação. A tal ponto que, a partir de dado momento, se nos torna difícil não imaginar a suculenta Uschi Digart no papel de Karen, Cathleen ou Adrianne, esperando que a qualquer momento uma mão se projecte de uma caixa de música para explorar um busto mais avantajado, ou os lençóis da cama se animem numa cópula onírica e perfeitamente recompensante, tal como em The Toy Box (Ron Garcia, 1971).
‘Like you’re in a graveyard and someone is watching ya… (sugere o seu companheiro).
Mas não. É algo mais prosaico.
‘(Sometimes) I’d feel horny. I’d be standing there scrapping dried blood and guts off the floor in a room where a bunch of people were murdered, and I’d pop a woody (p.28).
Karen entrega-se a um banho de sol com o fato de nascimento no pátio da mansão, de uma mansão cenário de orgias registadas nos milhares de DVDs pornográficos que se multiplicam pela casa; ‘a fonte tinha sido desligada, um gárgula com a boca seca que parecia olhar para ela concupiscente' (pag. 219). Quando Cathleen se despe no cemitério, ‘her innerself felt something stir at once, some thing beyond her. Seikthis or Lieppyas – benevolent spirits which inhabit trees or congregate near graves – or simple curious wraiths attracted to her sudden nudity. Ghosts, or even buoyed souls’ (p.108). Todo o universo, visível e invisível aparece como voyeur, como se manifestasse um desequilíbrio entre a reprodução e a morte.
Mas é sinal da fraqueza de Lee como autor que tudo isto pareça mais interessante do que realmente é. Desde o primeiro momento em que põe os pés na casa, qualquer pretexto é bom para as personagens se despirem (à semelhança, porventura, das narrativas pornográficas que, por um motivo ou outro, são constantemente reproduzidas no leitor de DVD); todas as personagens femininas (e algumas masculinas), são, à vez, submetidas a ‘para-planar rapes’, uma expressão interessante para uma queca inter-dimensional, tal como foram popularizadas pelo The Entity de Frank deFellitta em meados dos anos 70. Mas se as provações de Carlotta Moran, eram enriquecidas pela angústia que sublinhava o autêntico carácter de violação, as personagens de Lee, tal como as dos filmes porno, parecem retirar do sexo forçado um sensação de normalidade e satisfação. A tal ponto que, a partir de dado momento, se nos torna difícil não imaginar a suculenta Uschi Digart no papel de Karen, Cathleen ou Adrianne, esperando que a qualquer momento uma mão se projecte de uma caixa de música para explorar um busto mais avantajado, ou os lençóis da cama se animem numa cópula onírica e perfeitamente recompensante, tal como em The Toy Box (Ron Garcia, 1971).
E, com a presença dos investigadores paranormais, Hildreth Mansion tornou-se ela própria uma simbiótica caixa de brinquedos; as aparelhagens que buscam registar a actividade paranormal são brinquedos caros para Nykvysk e companhia, tal como Nykvysk e companhia são brinquedos para Hildreth Mansion. E se nós conhecíamos a personagem principal apenas através da descrição fragmentada que recebemos dos olhos de Faye (que, na altura não sabíamos ainda, nos mostrava tanto a mansão como o Chirice Flaesc), tal como conhecemos todos os outros através de reflexos em superfícies polidas, como se não pudéssemos olhar directamente para a verdade que se oculta em cada um deles, compete à investigação levada a cabo, ao moroso processo de colagem de impressões ilusórias da sensosfera circundante, construir a personalidade desta moderna casa assombrada. E Hildreth House surge-nos como uma personagem com um passado negro, que iniciou a sua carreira como centro de acolhimento para clérigos que sentiam uma atracção doentia pelos paroquianos mais novos, perdeu a juventude como concorrido bordel, e chegou às mãos de Hildreth que a tornou sede de uma produtora pornográfica, palco de orgias de sexo e sangue, a mansão é menos do que uma habitação, uma psicobomba latente, desperta pela actividade, pelos desejos, pela luxúria de quem nela penetra. E penetra não é tanto um trocadilho sem graça, como uma descrição precisa do processo de gestação que a própria casa atravessa nos nove meses que separam o começo do fim.
Posto tudo isto, não surge como nenhuma surpresa a “descoberta” de que Hildreth pretendia criar uma casa assombrada, um templo interdimensional para adoração de Belarius, o Sexus Cyning, o Lorde da Carnalidade. Aqui Lee intersecta a narrativa deste Flesh Gothic com o universo (sólido, consistente e obscenamente divertido) dos seus anteriores City Infernal (2001) e Infernal Angel (2003), deixando que as paredes entre mundos se adelgacem um pouco para nos revelar um imaginário sangrento, um bestiário teratológico assombroso e um humor macabro e delirante (um ponto particularmente bem conseguido mostra-nos o espírito descarnado de Adrianne sugado pelas narinas de um demónio, absorvido pelo seu organismo e ejaculado na boca de uma cortesã infernal; ao fim e ao cabo, uma súmula do processo digestivo, transfigurador a que a própria Hildreth Mansion pretende submeter os nossos heróis). Mas isto passa-se já na segunda parte do livro, a adequadamente baptizada CARNAL HOUSE, e nessa altura é já demasiado tarde para salvar o que está perdido. E a responsabilidade de tal facto recai unicamente sobre o fascínio que Lee sente pelo seu mundo Infernal, e a pouca atenção que dedicou a coisas tão secundárias como enredo e personagens. E nem os mistérios dentro de mistérios, embrulhados num enigma, que se apresentam sob a forma de um corpo num caixão, um pedaço de papel num cofre e uma adolescente desaparecida são suficientes para soprar vida na história assoberbada pelos excessos sexuais das personagens. Primeiro porque estas parecem perdidas no meio da parafernália paranormal de leituras iónicas, EVPs, OBEs, subincarnados, revenants, alucinações tácticas activas e passivas, adiposians, etc…, que não lhes deixam tempo para mais do que infinitas discussões pseudo-académicas, comiserações inanes e uma incompreensível propensão para, numa casa onde cada divisão está sujeita a controlo audiovisual, nunca olharem para o monitor quando alguém é violado, morto, ameaçado ou esquartejado, tomarem iniciativas sem informar os restantes elementos do grupo ou, simplesmente, receberem todas as informações necessárias, em cima da hora e por deus ex maquina (no caso um investigador privado que Westmore contratou).
Posto tudo isto, não surge como nenhuma surpresa a “descoberta” de que Hildreth pretendia criar uma casa assombrada, um templo interdimensional para adoração de Belarius, o Sexus Cyning, o Lorde da Carnalidade. Aqui Lee intersecta a narrativa deste Flesh Gothic com o universo (sólido, consistente e obscenamente divertido) dos seus anteriores City Infernal (2001) e Infernal Angel (2003), deixando que as paredes entre mundos se adelgacem um pouco para nos revelar um imaginário sangrento, um bestiário teratológico assombroso e um humor macabro e delirante (um ponto particularmente bem conseguido mostra-nos o espírito descarnado de Adrianne sugado pelas narinas de um demónio, absorvido pelo seu organismo e ejaculado na boca de uma cortesã infernal; ao fim e ao cabo, uma súmula do processo digestivo, transfigurador a que a própria Hildreth Mansion pretende submeter os nossos heróis). Mas isto passa-se já na segunda parte do livro, a adequadamente baptizada CARNAL HOUSE, e nessa altura é já demasiado tarde para salvar o que está perdido. E a responsabilidade de tal facto recai unicamente sobre o fascínio que Lee sente pelo seu mundo Infernal, e a pouca atenção que dedicou a coisas tão secundárias como enredo e personagens. E nem os mistérios dentro de mistérios, embrulhados num enigma, que se apresentam sob a forma de um corpo num caixão, um pedaço de papel num cofre e uma adolescente desaparecida são suficientes para soprar vida na história assoberbada pelos excessos sexuais das personagens. Primeiro porque estas parecem perdidas no meio da parafernália paranormal de leituras iónicas, EVPs, OBEs, subincarnados, revenants, alucinações tácticas activas e passivas, adiposians, etc…, que não lhes deixam tempo para mais do que infinitas discussões pseudo-académicas, comiserações inanes e uma incompreensível propensão para, numa casa onde cada divisão está sujeita a controlo audiovisual, nunca olharem para o monitor quando alguém é violado, morto, ameaçado ou esquartejado, tomarem iniciativas sem informar os restantes elementos do grupo ou, simplesmente, receberem todas as informações necessárias, em cima da hora e por deus ex maquina (no caso um investigador privado que Westmore contratou).
Assim, quando entramos finalmente no mundo do TEMPLE OF FLESH, o Chirice Flaesc, a própria narrativa parece responder à parada de clichés que Lee fez desfilar pelas suas cinquenta páginas, incluindo traições e revelações dignas do mais banal thriller de televisão, com um dos mais significativos finais anti-climáxicos de que há memória na literatura de horror. O que nos leva a Seattle, nove meses depois…, e a uma conclusão previsível, embora engenhosa…
Gostava que Lee tivesse injectado mais vida, mais conflitos nas suas personagens; Willis e Mack têm algo no passado que os inimiza, mas tal inimizade não desempenha qualquer papel na narrativa. Os remorsos de Nykvysk pela morte de um jovem amante que não teve a coragem de abraçar são inoperantes como ponto fraco que o tornasse mais permeável à influência demoníaca da casa, e as mulheres são apenas apetitosas desculpas para delírios carnais do autor. E o próprio Reginald Hildreth necessitava de mais consistência para que fosse mais do que uma sombra indistinta que surge aqui e ali como um brincalhão jack-in-the-box… Face à engenhosa solução final, um arabesco lateral que confere um traço de niilismo à narrativa até agora tão banal, somos forçados a concluir que Hildreth, Westmore e companhia eram tão necessários à história que Lee nos queria contar como uma lanterna à luz do dia.
Gostava que Lee tivesse injectado mais vida, mais conflitos nas suas personagens; Willis e Mack têm algo no passado que os inimiza, mas tal inimizade não desempenha qualquer papel na narrativa. Os remorsos de Nykvysk pela morte de um jovem amante que não teve a coragem de abraçar são inoperantes como ponto fraco que o tornasse mais permeável à influência demoníaca da casa, e as mulheres são apenas apetitosas desculpas para delírios carnais do autor. E o próprio Reginald Hildreth necessitava de mais consistência para que fosse mais do que uma sombra indistinta que surge aqui e ali como um brincalhão jack-in-the-box… Face à engenhosa solução final, um arabesco lateral que confere um traço de niilismo à narrativa até agora tão banal, somos forçados a concluir que Hildreth, Westmore e companhia eram tão necessários à história que Lee nos queria contar como uma lanterna à luz do dia.
Em abono de Lee deve reconhecer-se desde já que é difícil escrever um livro de horror eficaz quando se introduzem elementos de sobrenatural desde a página 7. Kingsley Amis conseguiu-o com The Green Man, onde um fantasma surge na página 4, mas tal como já Jane Austen compreendera em Northanger Abbey, o horror é um dos meios privilegiados de subversão das convenções sociais, para tal, é necessário que o quotidiano que nelas assenta seja reconhecível desde logo. Sem a subversão da realidade, não existe o verdadeiro horror. Apenas o grotesco. E o grotesco de Lee funcionou maravilhosamente em City Infernal e Infernal Angel, porque as duas realidades, quotidiana e infernal, funcionavam em planos distintos, sendo que apenas os raros Ethereals conseguiam atravessar a fronteira entre elas. Da normalidade, viajávamos até uma irrealidade dantesca, uma grotesquerie caricatural de hiper-violência. Mas aqui, em Flesh Gothic, o cómico mórbido de imagens como a da cabeça colocada numa prensa até que os miolos esguichem pelos olhos, narinas e orelhas, casa mal com a realidade, em que se insere, do nosso mundo cinzento de prostituição, drogas, violação, gravidez adolescente, abortos, corrupção, scat, e golden ou Herschey showers…Em última instância, toda a narrativa foi construída para Lee poder mostrar o seu mundo infernal; só que quando o leitor espreita por trás dos monstros e papões, compreende que estes são apenas homens em fatos de borracha, e os personagens seguiram o guião ingrato, que não lhes dava qualquer papel.








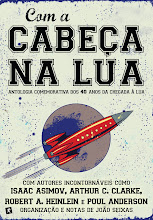










































1 comentário:
Boas!
Parabéns pelo weblog! Será uma referência diária. Gostei muito do texto: eu não li o "Flesh Gothic, mas a Gisela leu e também não ficou nada entusiasmada.
Grande abraço!
D.
Enviar um comentário