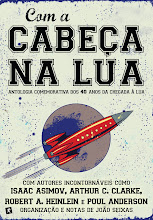A hárpia desperta no cimo do seu rochedo, ainda com um bocado de fígado entalado entre dois dentes. Desperta com uma comichão que já há uns dias a vem incomodando, sorvendo a cada hora um pouco mais da sua tranquilidade, alastrando metástases pela sua capacidade de apreciar as cores e os sabores da vida. As pessoas irritam ainda mais a sua comichão, o mundo sabe-lhe a fígado podre. E tudo por causa dos opinadores. Ou, pelo menos, daqueles que opinam em sentido contrário ao dela. Atrevidos. Sarnentos. Invejosos. Está que não pode. Quase rebenta. Quase não, rebenta mesmo, e sai à praça, num esganiçar de prego a raspar em alumínio (ai, esta comichão que me não larga) e é a imagem viva da indignação. Irrompe pela turba, rasga as vestes, arranca os cabelos, arranha o peito desnudo, dá palmadas de contrição, como quem espanta sabe-se lá o quê. É a imagem viva da virtude ultrajada… em suma, um cliché. Ela sabe que o é, mas sente um perverso prazer pessoal na inversão dos papéis. Não é o cavalheiro que sai em defesa da dama; é ela que sai em defesa do oprimido. E brada, na praça, de braços erguidos ao céu distante, como que amaldiçoando-o por se não deixar agarrar. Ela leu livros de todas as cores: o livro negro do fascismo, o livro azul do Hynek, o livro de contos do padre Castanho, e o livro vermelho de Mao, mas nenhum se compara ao Livro, único e verdadeiro, sacrossanto sobre todos os outros, o livro da Boa Venturança. Não fosse a comichão. A comichão que dá forma ao seu pensamento, que molda o conteúdo. Não, não, berra, não há conteúdo.
Escusado será dizer, que ela não berra verdadeiramente, nem rasga as vestes, nem se coça desesperada, mas a sua escrita é de uma tal sinestesia, que se traduz nos sentidos como som e fúria, a cavalgada das Valquírias na ponta dos dedos, o Hino à Alegria no iluminar do ecrã. Um caso exemplar de forma a dominar o conteúdo, a transformá-lo num cliché. Hell hath no fury like a woman scorned. A não ser, talvez, uma mulher desprezada por interposta pessoa. Ou por interposto livro. Ai a comichão.
A comichão, e o livro, e a matéria de que se faz a literatura. A literatura é representação, a literatura é transcendência; a literatura é, no melhor dos casos, um reflexo do que podemos ser, no pior, o espelho da nossa banalidade. A literatura é, quando trabalhada por quem lhe quer bem, uma luta incansável contra o cliché, contra a representação banal do banal. Porque até o banal pode ser transcendente. Seis mil milhões de pessoas à face da Terra, neste momento, permitem-nos supor que praticamente doze mil milhões delas terão experimentado, pelo menos uma vez na vida, os prazeres do sexo. Nada pode ser ao mesmo tempo mais banal e mais transcendente do que o sexo. Nada gera mais clichés do que o amor. Um milhão de adolescentes queixar-se-ão todos os dias, um pouco por todo o mundo, da namorada que os deixou e que não quis saber deles. Escrevê-lo assim, com todas as letras, com a banalidade de uma novela da TVI, de um episódio dos Morangos com açúcar, é um cliché. Escrevê-lo num contexto que nada contribui para a evolução da narrativa, é um cliché forçado, inserido a martelo por um escritor inábil que não sabe como dar personalidade às suas personagens. Imaturidade? Talvez. Mas voltemos à comichão primordial. Abordemos um dos maiores clichés da literatura: a perda da virgindade. Todos a perdemos um dia, e em mais do que um sentido. Martin Amis chama a atenção para uma dessas cenas em Making Love: An Erotic Odyssey (1992), uma falsa autobiografia de um tal Richard Rhodes: “My heart started pounding. I was avid. I was also terrified (…) Gussie’s body was a woman’s body, generous and real (…) I lay on the bed filled with happiness, one with the universe (…) It was springtime. I jumped into the air and clicked my heels.” Tudo nesta cena é um cliché. O ambiente, as personagens (um rapaz virgem na visita a uma prostituta – que revela ser golden hearted, ao contrário da nossa hárpia. Bem feita que continue com a comichão), as expressões utilizadas… Sim, as expressões utilizadas.
Compare-se com a completa fuga ao cliché que encontramos numa pequena preciosidade de Ed McBain (Evan Hunter) que dá pelo título Guns (1977). A cena é a mesma: o momento em que o nosso herói vai perder a virgindade. Ele é Colley, um jovem obcecado por armas, que matou pela primeira vez aos dezasseis anos, mas que ainda é virgem aos vinte e nove. Ela é Jeanine, uma stripper que já não é virgem há muito, mas que acaba de matar o seu primeiro homem (uma outra forma de perder a virgindade). O sexo que se inicia está marcado pelos fantasmas habituais – performance anxiety, talvez instigada pelo irmão dele que sempre lhe dissera que as armas são símbolos psicológicos para o pénis (um cliché), mas também pela euforia dela pelo assassinato que acabara de cometer (com uma faca, símbolo fálico por excelência - outra vez a inversão dos papéis). As tensões transformam aquela primeira experiência num duelo magnífico, onde o sexo é equacionado por ele com os mecanismos de uma arma, e por ela como uma forma de recuperar o domínio sobre a falocracia.
“Colley loved guns, there was no question about that. He remembered His various guns now as Jeanine whispered in his ear, urging him to explode inside her. She’d killed one man in the kitchen by stabbing him to death with a fourteen-inch blade, and now he suspected she wanted to kill another one here in the living room by fucking him to death. He sensed it would be dangerous to leave this woman unsatisfied; (…) Willfully, he thought of guns. Lovingly, he thought of their parts. (…)
He’d disassembled enough of them to know that their design was basically simple. He thought of that design now, concentrating on what caused the explosion in the barrel of a pistol, refusing to obey her whispered urgings, knowing he could not himself explode inside her or he would one day pay for it. She herself was paying all her markers, and perhaps that’s all she wanted or needed to do (…) But he felt certain she was testing him somehow, having utterly destroyed a man bigger and stronger than himself and wanting now to reduce him similarly (…). He was afraid of leaking his juices inside her vault. He was afraid that would be the same somehow as Jocko leaking his blood on to the kitchen floor. She suddenly rolled him off her. She sat up.
Her mouth descended.
In the simplest of pistols, like the Colt.22 Derringer, there were only seventeen parts, and you could assemble the gun from scratch for about twenty-five dollars. In a more complicated gun, like the German Luger, there were fifty or more parts. Colley new the names of the parts (…) Front sight and breechblock, toggle joint and firing pin, trigger bar spring stud…
He was frightened now. His mind frantically grasped for other names, breechblock catch link rivet (…).
There was nothing subtle about her attack now. She no longer wished to tantalize with slow bumps and grinds learned on rickety stages in smoky saloons. Her breathing was labored as she worked him liquidly, he was melting into her mouth, he was loosing himself to her, he twisted his head violently…
In any gun, the cartridge sat in a narrow metal shaft. It was composed of case, primer, powder and bullet. When the trigger was squeezed, the spring action caused the firing pin to strike the back of the cartridge case, denting it and simultaneously causing an explosion to fulminate…
She lifted her mouth for just an instant.
‘Come, you son of a bitch’, she whispered.
…igniting the powder and propelling the bullet from the shaft.”
He’d disassembled enough of them to know that their design was basically simple. He thought of that design now, concentrating on what caused the explosion in the barrel of a pistol, refusing to obey her whispered urgings, knowing he could not himself explode inside her or he would one day pay for it. She herself was paying all her markers, and perhaps that’s all she wanted or needed to do (…) But he felt certain she was testing him somehow, having utterly destroyed a man bigger and stronger than himself and wanting now to reduce him similarly (…). He was afraid of leaking his juices inside her vault. He was afraid that would be the same somehow as Jocko leaking his blood on to the kitchen floor. She suddenly rolled him off her. She sat up.
Her mouth descended.
In the simplest of pistols, like the Colt.22 Derringer, there were only seventeen parts, and you could assemble the gun from scratch for about twenty-five dollars. In a more complicated gun, like the German Luger, there were fifty or more parts. Colley new the names of the parts (…) Front sight and breechblock, toggle joint and firing pin, trigger bar spring stud…
He was frightened now. His mind frantically grasped for other names, breechblock catch link rivet (…).
There was nothing subtle about her attack now. She no longer wished to tantalize with slow bumps and grinds learned on rickety stages in smoky saloons. Her breathing was labored as she worked him liquidly, he was melting into her mouth, he was loosing himself to her, he twisted his head violently…
In any gun, the cartridge sat in a narrow metal shaft. It was composed of case, primer, powder and bullet. When the trigger was squeezed, the spring action caused the firing pin to strike the back of the cartridge case, denting it and simultaneously causing an explosion to fulminate…
She lifted her mouth for just an instant.
‘Come, you son of a bitch’, she whispered.
…igniting the powder and propelling the bullet from the shaft.”
Não é necessária uma única referência ao suor, ao bater do coração, ao estado emocional de cada um. E no entanto está tudo lá, no ritmo da linguagem, na homofonia dos termos, na analogia das distintas mecânicas. Não se encontra aqui um único cliché (a não ser, talvez o “melting in her mouth”), um único “e os dois foram um” ou “comunhões com o universo”, ou o cigarrinho pós-coital.
Um cliché é um acto, uma expressão, uma cena, uma situação, uma personagem. Uma música pode ser um cliché. Um cliché pode ser uma voz quando é usada para imitar a percepção generalizada de um povo, ou de uma região. Um cliché pode ser um comportamento, pode ser uma reacção. O cliché está no coração da caricatura. A nossa hárpia de vestes esfarrapadas, peito retalhado e comichão imparável encarnou a mais velha das caricaturas, o mais batido dos clichés. Afinal, já James Blish dizia que acusar um crítico de ódiozinhos pessoais era apenas sinal de que alguém tinha sentido os calos pisados. Também costumava dizer que era coisa que passava com a idade.
Escolhi os exemplos deste texto numa tentativa de levar a forma ao encontro do conteúdo. Tudo isto parece já uma mera conversa de cama, onde só falta virem falar de frustrações freudianas e sublimações edipianas. Mas, por vezes, querida hárpia, o meio é realmente a massagem, e a forma é também o conteúdo. O problema não é a comichão. É o fígado entre os dentes.