
O género do Horror é um género eminentemente sensual. Tal como a pornografia, o drama ou a comédia, o seu anseio – e a medida do seu sucesso – mede-se pela intensidade do efeito físico que logra provocar. E, como qualquer outro género, reside num eterno presente, que se renova pela reciclagem dos instrumentos que se mostraram capazes de suscitar aqueles efeitos.
Por tal razão, é difícil, na longa genealogia de cerca de 270 anos (desde que os Graveyard Poets, Blair, Boswell, et. al., introduziram uma nova perspectiva e tratamento da morte) encontrar marcados pontos de ruptura com a tradição que antecede cada obra. Facto que é tão verdadeiro no Horror escrito como nas suas manifestações cinematográficas.
Um tal ponto de ruptura, pode procurar-se no trabalho dos autores representados no documentário The American Nightmare (que ontem passou no S. Jorge) de que já aqui falamos, naquele curto e furioso período que se estendeu entre 1968 (The Night of the Living Dead) e 1977 (ano de Star Wars, e da reposição dos valores da família).
Não se pense que tais marcos, porém, são meramente arbitrários: uma análise minimamente atenta aos títulos mais marcantes do Fantástico a partir de 1977, centram-se quase que exclusivamente na exploração dos limites do conceito de família nuclear. Onde esta era subvertida por Romero (a filha que devora a mãe, cobrando assim o máximo sacrifício parental), Hooper (a família disfuncional de The Texas Chainsaw Massacre) ou Carpenter (o desaparecimento dos pais ou a entrega dos filhos a nannys, que não possuem o necessário instinto maternal e que viria a caracterizar um verdadeiro subgénero posterior), passa a ser afirmada como único reduto de salvação em obras como Poltergeist (do mesmo Hooper, 1982), ou mesmo no sucesso comercial de Kramer vs Kramer (Benton,1979) e The Brood (Cronemberg, 1979) ou este H6: Diário de un Asesino (Barón, 2005, ainda que com um curioso twist final), que será projectado na sexta-feira, no âmbito do festival.
Curiosamente, fenómeno idêntico tinha já ocorrido no ocaso do Gótico, quando o conceito de domesticidade foi introduzido na literatura, substituindo o sense and sensibility.
E é no Gótico que encontramos as raízes do horror moderno: ambos respondem à ânsia de sensações extremas num mundo urbano, confortável e homogeneizado.
Neste sentido, uma coisa que se parece observar, é que o Horror filmado regressou uma vez mais às raízes “B”, sendo de produtoras independentes ou especializadas que surgem as obras mais marcantes, a par de uma inusitada e completamente inesperada deslocação dos conteúdos mais ousados do cinema para a televisão (como se a família, tivesse deixado a sala de estar e se tivesse mudado, em peso, para os cineplexes). Desapareceram completamente das telas dos cinemas produções dos grandes estúdios como The Haunting (Wise, 1961), Rosemary’s Baby (Polanski, 1968) The Exorcist (Friedkin, 1973), ou mesmo o Jaws (Spielberg, 1975). Neste último caso, é pertinente observar como o homem e o filme que criaram o summer blockbuster, se transmutaram, em 1993, no desdentado Jurassic Park.
Poderá isto ser explicado, por uma nova domesticidade do horror? Ou por uma crescente concorrência de fontes de frisson, que competem com o Horror e o empurram para as margens?
O fornecimento de sensações extremas foi tomado de assalto por parques temáticos e desportos radicais (perfeitamente sanitários na sua não menos extrema segurança) e apropriado pelos próprios telejornais (com os seus sensacionalismos vácuos) e programas da manhã (com os seus desfiles de desgraças, doenças e casos da vida).
Escrevendo sobre o Gótico, Clive Bloom (Gothic Horror, 1995): “At once escapist and conformist, the gothic speaks to the dark side of domestic fiction: erotic, violent, perverse, bizarre, and obsessively connected with contemporary fears”.
No caso do cinema de Ivan Cardoso, essa dicotomia assume uma curiosa ironia, pois muitos dos seus actores são rostos bem conhecidos das assépticas novelas da Globo (o doméstico por excelência, num mundo idealizado e confortável, onde a vilania é sempre punida), e surgem em filmes como O Segredo da Múmia (1982) As Sete Vampiras (1986) ou Um Lobisomem na Amazónia (2005) em cenários, papéis e comportamentos completamente inesperados, “eróticos, violentos e bizarros” (voltaremos ao cinema de Ivan Cardoso num próximo post).
Na verdade, e no que se refere ao fornecimento de sensações extremas, é fácil imaginar as nossas donas de casa, alimentadas a novelas e programas matinais a comportarem-se como a Miss Andrews de Northanger Abbey (Austen, 1817), “a sweet girl, one of the sweetest creatures in the world” que, no tocante a novelas de horor, “has read every one of them”.
Tal como a novela gótica, o horror filmado contemporâneo é composto por um punhado de títulos de referência – aceites pelo mainstream – e uma corrente subterrânea de obras marginais, mais extremas, que penetram nos medos contemporâneos, trazendo à superfície as feridas sociais que o estado wellfare cobre com mera cosmética: a pedofilia, os serial killers, as doenças que não conhecem fronteiras (Gripe das Aves, Vacas Loucas), ou a simples consciencialização da perda do controlo que exercemos sobre as nossas vidas numa sociedade de efeitos globais. Ou a simples, imponderável e assustadora senescência.
Todos estes medos estão presentes, de uma forma ou outra, nos títulos seleccionados para a secção Room Service.
Por tal razão, é difícil, na longa genealogia de cerca de 270 anos (desde que os Graveyard Poets, Blair, Boswell, et. al., introduziram uma nova perspectiva e tratamento da morte) encontrar marcados pontos de ruptura com a tradição que antecede cada obra. Facto que é tão verdadeiro no Horror escrito como nas suas manifestações cinematográficas.
Um tal ponto de ruptura, pode procurar-se no trabalho dos autores representados no documentário The American Nightmare (que ontem passou no S. Jorge) de que já aqui falamos, naquele curto e furioso período que se estendeu entre 1968 (The Night of the Living Dead) e 1977 (ano de Star Wars, e da reposição dos valores da família).
Não se pense que tais marcos, porém, são meramente arbitrários: uma análise minimamente atenta aos títulos mais marcantes do Fantástico a partir de 1977, centram-se quase que exclusivamente na exploração dos limites do conceito de família nuclear. Onde esta era subvertida por Romero (a filha que devora a mãe, cobrando assim o máximo sacrifício parental), Hooper (a família disfuncional de The Texas Chainsaw Massacre) ou Carpenter (o desaparecimento dos pais ou a entrega dos filhos a nannys, que não possuem o necessário instinto maternal e que viria a caracterizar um verdadeiro subgénero posterior), passa a ser afirmada como único reduto de salvação em obras como Poltergeist (do mesmo Hooper, 1982), ou mesmo no sucesso comercial de Kramer vs Kramer (Benton,1979) e The Brood (Cronemberg, 1979) ou este H6: Diário de un Asesino (Barón, 2005, ainda que com um curioso twist final), que será projectado na sexta-feira, no âmbito do festival.
Curiosamente, fenómeno idêntico tinha já ocorrido no ocaso do Gótico, quando o conceito de domesticidade foi introduzido na literatura, substituindo o sense and sensibility.
E é no Gótico que encontramos as raízes do horror moderno: ambos respondem à ânsia de sensações extremas num mundo urbano, confortável e homogeneizado.
Neste sentido, uma coisa que se parece observar, é que o Horror filmado regressou uma vez mais às raízes “B”, sendo de produtoras independentes ou especializadas que surgem as obras mais marcantes, a par de uma inusitada e completamente inesperada deslocação dos conteúdos mais ousados do cinema para a televisão (como se a família, tivesse deixado a sala de estar e se tivesse mudado, em peso, para os cineplexes). Desapareceram completamente das telas dos cinemas produções dos grandes estúdios como The Haunting (Wise, 1961), Rosemary’s Baby (Polanski, 1968) The Exorcist (Friedkin, 1973), ou mesmo o Jaws (Spielberg, 1975). Neste último caso, é pertinente observar como o homem e o filme que criaram o summer blockbuster, se transmutaram, em 1993, no desdentado Jurassic Park.
Poderá isto ser explicado, por uma nova domesticidade do horror? Ou por uma crescente concorrência de fontes de frisson, que competem com o Horror e o empurram para as margens?
O fornecimento de sensações extremas foi tomado de assalto por parques temáticos e desportos radicais (perfeitamente sanitários na sua não menos extrema segurança) e apropriado pelos próprios telejornais (com os seus sensacionalismos vácuos) e programas da manhã (com os seus desfiles de desgraças, doenças e casos da vida).
Escrevendo sobre o Gótico, Clive Bloom (Gothic Horror, 1995): “At once escapist and conformist, the gothic speaks to the dark side of domestic fiction: erotic, violent, perverse, bizarre, and obsessively connected with contemporary fears”.
No caso do cinema de Ivan Cardoso, essa dicotomia assume uma curiosa ironia, pois muitos dos seus actores são rostos bem conhecidos das assépticas novelas da Globo (o doméstico por excelência, num mundo idealizado e confortável, onde a vilania é sempre punida), e surgem em filmes como O Segredo da Múmia (1982) As Sete Vampiras (1986) ou Um Lobisomem na Amazónia (2005) em cenários, papéis e comportamentos completamente inesperados, “eróticos, violentos e bizarros” (voltaremos ao cinema de Ivan Cardoso num próximo post).
Na verdade, e no que se refere ao fornecimento de sensações extremas, é fácil imaginar as nossas donas de casa, alimentadas a novelas e programas matinais a comportarem-se como a Miss Andrews de Northanger Abbey (Austen, 1817), “a sweet girl, one of the sweetest creatures in the world” que, no tocante a novelas de horor, “has read every one of them”.
Tal como a novela gótica, o horror filmado contemporâneo é composto por um punhado de títulos de referência – aceites pelo mainstream – e uma corrente subterrânea de obras marginais, mais extremas, que penetram nos medos contemporâneos, trazendo à superfície as feridas sociais que o estado wellfare cobre com mera cosmética: a pedofilia, os serial killers, as doenças que não conhecem fronteiras (Gripe das Aves, Vacas Loucas), ou a simples consciencialização da perda do controlo que exercemos sobre as nossas vidas numa sociedade de efeitos globais. Ou a simples, imponderável e assustadora senescência.
Todos estes medos estão presentes, de uma forma ou outra, nos títulos seleccionados para a secção Room Service.
 Dos títulos propostos, de que nos chegam ecos de outros festivais, devo confessar que apenas conheço o já referido H6 (Barón, 2005), que recomendo vivamente, com algumas ressalvas que discutirei num outro post dedicado exclusivamente a esse título. Dos restantes, a comédia neo-zelandesa Black Sheep (Jonathan King, 2006) retoma a fórmula popularizada por Shaun of the Dead para nos apresentar uma praga de carneiros zombies numa região do mundo onde há mais carneiros (muito mais carneiros) do que humanos. Pedirá sempre comparação com o clássico Night of the Lepus (1972), embora a participação da empresa Weta (responsável pelas armas e demais accoutrements da trilogia Lord of the Rings) lhe permita um aspecto visual com que o clássico de William Claxton nunca poderia sonhar. Pode bem ser um filme que faça finalmente jus ao dito dos Monty Python, “there’s no animal more dangerous than a sheep with ideas”.
Dos títulos propostos, de que nos chegam ecos de outros festivais, devo confessar que apenas conheço o já referido H6 (Barón, 2005), que recomendo vivamente, com algumas ressalvas que discutirei num outro post dedicado exclusivamente a esse título. Dos restantes, a comédia neo-zelandesa Black Sheep (Jonathan King, 2006) retoma a fórmula popularizada por Shaun of the Dead para nos apresentar uma praga de carneiros zombies numa região do mundo onde há mais carneiros (muito mais carneiros) do que humanos. Pedirá sempre comparação com o clássico Night of the Lepus (1972), embora a participação da empresa Weta (responsável pelas armas e demais accoutrements da trilogia Lord of the Rings) lhe permita um aspecto visual com que o clássico de William Claxton nunca poderia sonhar. Pode bem ser um filme que faça finalmente jus ao dito dos Monty Python, “there’s no animal more dangerous than a sheep with ideas”.The Living and the Dead (2006), do britânico Simon Rumley, assume um tom tipicamente british para exorcizar numa comédia negra, aquilo que Rumley descreve como “the trauma of having to watch my mother die of cancer”. No entanto, ao mesmo tempo que exorciza a sua experiência pessoal, quando Donald (Roger Lloyd-Pack) deixa a esposa acamada (Kate Fahy) aos cuidados de uma enfermeira, que o filho do casal (Leo Bill), igualmente dependente de medicamentos prontamente expulsa de casa para mostrar a sua capacidade de tomar conta da mãe, Rumley oferece-nos uma análise certeira e pungente, quer da dependência medicamentosa em que se encontra grande parte da população ocidental, quer do encargo cada vez maior que a idade avançada e a doença prolongada representam nos nossos dias.
 A ideia mais assustadora, porém, pode perfeitamente ser aquela que nos faz pensar que o comportamento societário, só pode ser mantido por forte medicação e, livrássemo-nos da carga de estimulantes, anti-depressivos e ansiolíticos que fazem a fortuna das farmacêuticas, e a sociedade desabaria como um castelo de cartas aflorado por um sopro.
A ideia mais assustadora, porém, pode perfeitamente ser aquela que nos faz pensar que o comportamento societário, só pode ser mantido por forte medicação e, livrássemo-nos da carga de estimulantes, anti-depressivos e ansiolíticos que fazem a fortuna das farmacêuticas, e a sociedade desabaria como um castelo de cartas aflorado por um sopro. O filme que me suscita maior curiosidade é Mulberry Street (Jim Mickle, 2006), um regresso aos ratos assassinos de Rats - Notti di Terrore (Bruno Mattei, 1984), numa Nova Iorque pós-onze de Setembro, e que parece fechar o círculo de domesticidade e família de que vínhamos falando, ao mesmo tempo que tudo se vai fechando: o prédio na rua que dá título ao filme, expropriado para demolição pela Câmara, gerando uma camaradagem de vizinhança que vai ser testada à medida que se prolonga o cerco de homens-rato, infectados pelo vírus; Manhattan, cujos acessos são encerrados como naquela fatídica terça-feira de 2001; e a distância através da geografia nova-iorquina enervantemente calma e silenciosa que separa Casey (Kim Blair), que regressa de uma comissão no Iraque do pai Clutch (Nick Damici, que também escreveu o argumento).
O filme que me suscita maior curiosidade é Mulberry Street (Jim Mickle, 2006), um regresso aos ratos assassinos de Rats - Notti di Terrore (Bruno Mattei, 1984), numa Nova Iorque pós-onze de Setembro, e que parece fechar o círculo de domesticidade e família de que vínhamos falando, ao mesmo tempo que tudo se vai fechando: o prédio na rua que dá título ao filme, expropriado para demolição pela Câmara, gerando uma camaradagem de vizinhança que vai ser testada à medida que se prolonga o cerco de homens-rato, infectados pelo vírus; Manhattan, cujos acessos são encerrados como naquela fatídica terça-feira de 2001; e a distância através da geografia nova-iorquina enervantemente calma e silenciosa que separa Casey (Kim Blair), que regressa de uma comissão no Iraque do pai Clutch (Nick Damici, que também escreveu o argumento).São dedadas fortes que ficam impressas nas telas dos nossos cinemas, sempre a realidade lhes consegue deitar a mão. Certamente nenhum destes filmes se converterá num clássico do Horror, mas que isso não nos impeça desfrutar de quatro snapshots dos terrores contemporâneos.
Tal como as novelas góticas de onde nasceram há um par de séculos, revelam “surprising social relevance in their apparently escapist fictions” (Walter Kendrick, The Thrill of Fear, 1991).








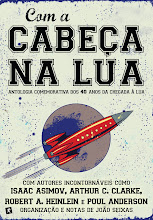










































1 comentário:
MULBERRY STREET podia ser melhor do que aquilo que é. Realizado com baixissimo orçamento, nem sequer se chegam a ver os homens-ratos. Tens alguns momentos interessantes, sim, mas perdem-se numa confusão de imagens obscuras onde mal se percebe o que está realmente a acontecer. E depois, ah...o decalque da NOITE DOS MORTOS-VIVOS é por demais evidente. Em vez de zombies são homens-mortos-ratoides a atacar. E o final é igualzinho ao modelo do Romero. A heroina hispânica, mutilada na guerra do Iraque, acaba por morrer às mãos dos seus proverbiais salvadores...Enfim...
Enviar um comentário