
Apenas Livros
2007
39 páginas
ISBN: 978-989-618-143-7
A escrita sobre cinema em Portugal é, quiçá retratando a própria realidade das nossas produções, de uma indigência constrangedora; famintos da estocada vibrante, descontentes com o tédio nacional, envergonhados de gabar o mérito artístico das produções comerciais norte-americanas, críticos, autores, realizadores e produtores escudam-se numa mortificação constante, cantando hossanas às mais obscuras produções regionais paquistanesas, e lamuriando o estado de decadência e deboche dos mais recentes fenómenos de bilheteira.
A culpa é quase sempre dos outros: do ICAM – que não financia um número suficiente de pastelões nacionais ou que, num arrebate de decoro, não cria condições à exibição dos pastelões produzidos –; dos distribuidores, que não compreendem que o último hino à saudade lusa, onde dois “actores” se encerram num quarto para dois monólogos de quatro horas sobre a vacuidade da existência, é incomparavelmente superior aos filmes gore que limitam essa existência à derrota dos travões morais que nos impõem a morte do outro (Hobbes nunca lhes passa pela cabeça); em última análise do ignaro espectador que come tudo o que lhe dão desde que tenha cor e sabor, desprezando o produto nacional, amadurecido ao longo de um século arredado da actualidade.
É por isso um prazer encontrar um opúsculo como estas Inconfidências de um ex-praticante, um trio de “retromnemónicas” (p.11) que António de Macedo (n.1931) reuniu para inaugurar a colecção “fitas & factos”, que Carlos J. F. Jorge dirige para a Apenas Livros. Na verdade, este pequeno livrinho – conta umas parcas 36 páginas de texto – reúne três artigos previamente publicados na revista de cinema Arte 7, nos idos de 90 do século passado, início de uma colaboração que pretendia abranger a longa carreira de Macedo enquanto cineasta (1962-1993), mas que, como quase sempre acontece com estas coisas, cedo foi interrompida pelo prematuro decesso da publicação.
Ficam-nos assim estes breves textos, escritos com a fluidez e coloquialidade que são cunho da escrita de Macedo, enquanto nos guia pelo mundo de luzes e sombras (literalmente) que é o do cinema; e, particularmente, da única carreira de um cineasta português dedicada, de forma sistemática e reincidente, ao cinema do fantástico. E, quase nos podemos perguntar, se existirá outro tipo de cinema.
Lê-se a dado passo (p.3): “Cedo sobreveio a irresistível tentação de captar o que o olho não vê – pois para isso é que foi feito o cinema”.
Aí se encontram as origens mágicas dessa arte da luz com que se pintam as telas em branco; uma lição que os irmãos Lumiére, agarrados a um realismo documentarista, não conseguiram aprender a tempo de resistirem a Melíès, ilusionista e mágico de palco, que lesto compreendeu o que era aquela nova técnica: um truque de ilusionismo, destinado a enganar o olho, a enganar a mente. Não é por acaso que os grandes avanços (técnicos e estéticos) dos primórdios do cinema se deram em filmes do Fantástico: Frankenstein (1910), Caligari (1919), Nosferatu (1921), Haxän (1922), Phantom of the Opera (1924), The Monster (1927, e primeiro filme integralmente sonoro), para citar apenas os mais conhecidos.
Macedo cedo compreendeu também essa verdade: “Já se sabe que em cinema o verdadeiro não existe, existe apenas o verosímil; é preferível filmar o falso verosímil (por exemplo chá diluído por whisky, ou os disparos de metralhadora cheios de miríficas labaredas) do que o verdadeiro que não resulta (por exemplo diamantes autênticos que parecem pedaços de vidro, tiros autênticos que nem sequer deitam fumo).” (p.4).
O título deste opúsculo (de que acima referi apenas o subtítulo, porque me parece mais adequado) é Como se fazia cinema em Portugal; é um título que não estranhamos no António, que todos bem conhecemos pela sua natural modéstia e generosidade; a verdade, porém, é que o livro trata – e ainda bem – de como o António de Macedo fazia cinema em Portugal; e Macedo fazia-o com imaginação [deliciosa a anedota que nos conta sobre o filme “dentro” do filme “Domingo à Tarde” (1965)], desenrascanço (fascinantes os diversos aspectos técnicos das produções dos seus filmes que Macedo torna compreensíveis ao leitor leigo), ousadia (impagável a história do figurante que leva com um tiro de pólvora-seca em pleno rosto, demonstrando que a magia do cinema reside de facto, na arte do realizador) e cor. A cor de mundos sonhados, mesmo quando pintada com o preto e branco primordial. Macedo deixa transparecer nestes textos um fascínio pela cor, pela exploração cromática que ele e Teresa Ferreira levaram a cabo em vários projectos, até culminar no colorido pulpesco que todos nós recordamos com saudade de Os Abismos da Meia Noite (1982) e Os Emissários de Khalôm (1987).
Lendo estes breves textos, fica-se com uma incrível vontade de revisitar esses títulos, de explorar as deliciosas e provocadoras Horas de Maria (1976) e descobrir (eu, pelo menos não tive ainda a oportunidade de os ver) Domingo à Tarde (1965) e 7 Balas para Selma (1967).
O que nos leva de volta à inultrapassável indigência do nosso meio cinematográfico, que tolera que estes títulos não estejam editados em DVD, que não mereçam uma restrospectiva da Cinemateca (Sr. Bénard da Costa, quem organiza um ciclo de Richard Fleischer, não conseguirá organizar um ciclo de António de Macedo?), e à parte (mais extensa), mais macabramente fascinante e mais negra do livro de Macedo: a Censura. Das 36 páginas deste título, 18 são dedicadas à experiência de Macedo com a mesa censória; não só com a censura institucional, mas pior, com a censura cultural. São páginas que se assemelham a um sangrento acidente rodoviário, com pedaços de corpos e metal espalhados por todo o lado: vemos mas não acreditamos; lemos mas não queremos crer; rimos, apenas para não chorar.
Alguns dos episódios relatados são pitorescos (como Macedo logrou uma ficha impecável na PIDE), outros rocambolescos, outros ridículos; mas é impossível deixar de referir um deles, que levou Macedo a abandonar o cinema, e que, no fundo, nos toca a todos na pele (é o nosso dinheiro que está em causa; é a nossa experiência pessoal enquanto amantes do fantástico que é posta em crise). Na “autobibliografia” com que Macedo conclui este volume (dando uma certa coerência e completude ao que, dada a natureza dos textos recolhidos, poderia ser uma colecção desconexa de recordações), encontra-se um excerto de uma entrevista dada à revista Autores nº14 (Abril/Junho de 2007), onde Macedo responde desta forma à pergunta que lhe é feita sobre a data em que abandonou a realização: “Tive de largar antes (…) porque houve uma espécie de conflito estético-cultural, o que lhe quiserem chamar, com os júris que atribuem os apoios financeiros para se fazerem filmes de fundo e que eram facilmente manipuláveis. A verdade é que alguns membros dos júris me disseram, mais tarde, que o meu tipo de cinema era «um cinema que não interessava» - um cinema fantástico, um cinema «desligado das realidades», um bocado fantasioso, e esse tipo de imaginário não interessava para o cinema português. E por isso comecei a ser censurado num regime onde, constitucionalmente, não há censura”.
É por isso um prazer encontrar um opúsculo como estas Inconfidências de um ex-praticante, um trio de “retromnemónicas” (p.11) que António de Macedo (n.1931) reuniu para inaugurar a colecção “fitas & factos”, que Carlos J. F. Jorge dirige para a Apenas Livros. Na verdade, este pequeno livrinho – conta umas parcas 36 páginas de texto – reúne três artigos previamente publicados na revista de cinema Arte 7, nos idos de 90 do século passado, início de uma colaboração que pretendia abranger a longa carreira de Macedo enquanto cineasta (1962-1993), mas que, como quase sempre acontece com estas coisas, cedo foi interrompida pelo prematuro decesso da publicação.
Ficam-nos assim estes breves textos, escritos com a fluidez e coloquialidade que são cunho da escrita de Macedo, enquanto nos guia pelo mundo de luzes e sombras (literalmente) que é o do cinema; e, particularmente, da única carreira de um cineasta português dedicada, de forma sistemática e reincidente, ao cinema do fantástico. E, quase nos podemos perguntar, se existirá outro tipo de cinema.
Lê-se a dado passo (p.3): “Cedo sobreveio a irresistível tentação de captar o que o olho não vê – pois para isso é que foi feito o cinema”.
Aí se encontram as origens mágicas dessa arte da luz com que se pintam as telas em branco; uma lição que os irmãos Lumiére, agarrados a um realismo documentarista, não conseguiram aprender a tempo de resistirem a Melíès, ilusionista e mágico de palco, que lesto compreendeu o que era aquela nova técnica: um truque de ilusionismo, destinado a enganar o olho, a enganar a mente. Não é por acaso que os grandes avanços (técnicos e estéticos) dos primórdios do cinema se deram em filmes do Fantástico: Frankenstein (1910), Caligari (1919), Nosferatu (1921), Haxän (1922), Phantom of the Opera (1924), The Monster (1927, e primeiro filme integralmente sonoro), para citar apenas os mais conhecidos.
Macedo cedo compreendeu também essa verdade: “Já se sabe que em cinema o verdadeiro não existe, existe apenas o verosímil; é preferível filmar o falso verosímil (por exemplo chá diluído por whisky, ou os disparos de metralhadora cheios de miríficas labaredas) do que o verdadeiro que não resulta (por exemplo diamantes autênticos que parecem pedaços de vidro, tiros autênticos que nem sequer deitam fumo).” (p.4).
O título deste opúsculo (de que acima referi apenas o subtítulo, porque me parece mais adequado) é Como se fazia cinema em Portugal; é um título que não estranhamos no António, que todos bem conhecemos pela sua natural modéstia e generosidade; a verdade, porém, é que o livro trata – e ainda bem – de como o António de Macedo fazia cinema em Portugal; e Macedo fazia-o com imaginação [deliciosa a anedota que nos conta sobre o filme “dentro” do filme “Domingo à Tarde” (1965)], desenrascanço (fascinantes os diversos aspectos técnicos das produções dos seus filmes que Macedo torna compreensíveis ao leitor leigo), ousadia (impagável a história do figurante que leva com um tiro de pólvora-seca em pleno rosto, demonstrando que a magia do cinema reside de facto, na arte do realizador) e cor. A cor de mundos sonhados, mesmo quando pintada com o preto e branco primordial. Macedo deixa transparecer nestes textos um fascínio pela cor, pela exploração cromática que ele e Teresa Ferreira levaram a cabo em vários projectos, até culminar no colorido pulpesco que todos nós recordamos com saudade de Os Abismos da Meia Noite (1982) e Os Emissários de Khalôm (1987).
Lendo estes breves textos, fica-se com uma incrível vontade de revisitar esses títulos, de explorar as deliciosas e provocadoras Horas de Maria (1976) e descobrir (eu, pelo menos não tive ainda a oportunidade de os ver) Domingo à Tarde (1965) e 7 Balas para Selma (1967).
O que nos leva de volta à inultrapassável indigência do nosso meio cinematográfico, que tolera que estes títulos não estejam editados em DVD, que não mereçam uma restrospectiva da Cinemateca (Sr. Bénard da Costa, quem organiza um ciclo de Richard Fleischer, não conseguirá organizar um ciclo de António de Macedo?), e à parte (mais extensa), mais macabramente fascinante e mais negra do livro de Macedo: a Censura. Das 36 páginas deste título, 18 são dedicadas à experiência de Macedo com a mesa censória; não só com a censura institucional, mas pior, com a censura cultural. São páginas que se assemelham a um sangrento acidente rodoviário, com pedaços de corpos e metal espalhados por todo o lado: vemos mas não acreditamos; lemos mas não queremos crer; rimos, apenas para não chorar.
Alguns dos episódios relatados são pitorescos (como Macedo logrou uma ficha impecável na PIDE), outros rocambolescos, outros ridículos; mas é impossível deixar de referir um deles, que levou Macedo a abandonar o cinema, e que, no fundo, nos toca a todos na pele (é o nosso dinheiro que está em causa; é a nossa experiência pessoal enquanto amantes do fantástico que é posta em crise). Na “autobibliografia” com que Macedo conclui este volume (dando uma certa coerência e completude ao que, dada a natureza dos textos recolhidos, poderia ser uma colecção desconexa de recordações), encontra-se um excerto de uma entrevista dada à revista Autores nº14 (Abril/Junho de 2007), onde Macedo responde desta forma à pergunta que lhe é feita sobre a data em que abandonou a realização: “Tive de largar antes (…) porque houve uma espécie de conflito estético-cultural, o que lhe quiserem chamar, com os júris que atribuem os apoios financeiros para se fazerem filmes de fundo e que eram facilmente manipuláveis. A verdade é que alguns membros dos júris me disseram, mais tarde, que o meu tipo de cinema era «um cinema que não interessava» - um cinema fantástico, um cinema «desligado das realidades», um bocado fantasioso, e esse tipo de imaginário não interessava para o cinema português. E por isso comecei a ser censurado num regime onde, constitucionalmente, não há censura”.
A estupidez ainda não abriu os olhos à realidade do cinema, à magia de “captar o que o olho não vê”, nem pode ver, projectando anseios de futuro na estrada de luz que une a tela ao projector. Num panorama de anquilosamento cinematográfico, onde Manuel de Oliveira faz o mesmo filme há quase setenta anos, estas “inconfidências de um ex-praticante” lêem-se como a evocação de uma era de ouro perdida do cinema português; não é só como se fazia cinema em Portugal, mas como jamais se voltará a fazer.








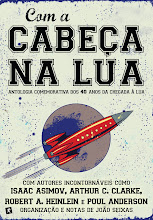










































Sem comentários:
Enviar um comentário