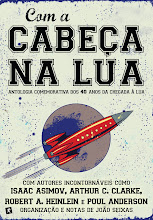Há determinados livros que nos fazem repensar todo um género. Que nos obrigam a rever mesmo os nossos hábitos de leitura, o nosso conceito de narrativa e a nossa relação com o texto impresso. São livros que surgem raramente e espaçados no tempo.
Hoje chega às livrarias um desses livros: A Muralha de Gelo (Saída de Emergência), é a segunda parte de A Guerra dos Tronos, ambos formando o primeiro volume da saga As Crónicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin. Mas dizer isto é ficar aquém da realidade, pois as separações são totalmente arbitrárias numa série de volumes que contam uma só história, espartilhada somente por exigências editoriais, quer na edição original, quer nas várias traduções que se vão distribuindo um pouco por todo o mundo.
Digamos então que As Crónicas de Gelo e Fogo são aquilo que todos os épicos de fantasia gostavam de ser: complexas, violentas, intrincadas, com magnífico desenvolvimento de personagens e, acima de tudo, dotadas de uma perfeita coerência interna a nível da essencial irrealidade das suas premissas.
O mérito da obra não é de difícil reconhecimento: abençoados (ou amaldiçoados) com o intervalo de tempo que mediou entre a sua publicação original e a tradução que agora nos chega às mãos, não somos obrigados a um esforço crítico. A obra é já reconhecida como um marco da literatura fantástica – a par de outros como O Senhor dos Anéis, Gormenghast ou Glorianna – cujo lugar definitivo na Grande Biblioteca da Imaginação se mostra apenas dependente da efectiva conclusão da epopeia, e dos precisos termos dessa conclusão.
Por isso o livro desafia os nossos hábitos de leitura, o nosso conceito de narrativa, a expectativa com que sempre enfrentamos um livro novo: a de encontrar um final. As Crónicas de Gelo e Fogo ainda não têm um final; mas deliciem-se os leitores com os vários finais e recomeços que vão marcando o fluxo da acção. Martin é um artesão da escrita, e a ríspida simplicidade da linguagem, em toda a sua aparente simplicidade, é o maior logro dos grandes artesãos.
Quando, na revista OS MEUS LIVROS de Novembro de 2005 – há exactamente 2 anos – me pediram uma lista de obras de Fantasia de referência, considerei uma vergonha que ainda não tivesse sido traduzido entre nós George R.R. Martin: agora que o foi, é uma vergonha se lhe respondermos com indiferença.
Hoje chega às livrarias um desses livros: A Muralha de Gelo (Saída de Emergência), é a segunda parte de A Guerra dos Tronos, ambos formando o primeiro volume da saga As Crónicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin. Mas dizer isto é ficar aquém da realidade, pois as separações são totalmente arbitrárias numa série de volumes que contam uma só história, espartilhada somente por exigências editoriais, quer na edição original, quer nas várias traduções que se vão distribuindo um pouco por todo o mundo.
Digamos então que As Crónicas de Gelo e Fogo são aquilo que todos os épicos de fantasia gostavam de ser: complexas, violentas, intrincadas, com magnífico desenvolvimento de personagens e, acima de tudo, dotadas de uma perfeita coerência interna a nível da essencial irrealidade das suas premissas.
O mérito da obra não é de difícil reconhecimento: abençoados (ou amaldiçoados) com o intervalo de tempo que mediou entre a sua publicação original e a tradução que agora nos chega às mãos, não somos obrigados a um esforço crítico. A obra é já reconhecida como um marco da literatura fantástica – a par de outros como O Senhor dos Anéis, Gormenghast ou Glorianna – cujo lugar definitivo na Grande Biblioteca da Imaginação se mostra apenas dependente da efectiva conclusão da epopeia, e dos precisos termos dessa conclusão.
Por isso o livro desafia os nossos hábitos de leitura, o nosso conceito de narrativa, a expectativa com que sempre enfrentamos um livro novo: a de encontrar um final. As Crónicas de Gelo e Fogo ainda não têm um final; mas deliciem-se os leitores com os vários finais e recomeços que vão marcando o fluxo da acção. Martin é um artesão da escrita, e a ríspida simplicidade da linguagem, em toda a sua aparente simplicidade, é o maior logro dos grandes artesãos.
Quando, na revista OS MEUS LIVROS de Novembro de 2005 – há exactamente 2 anos – me pediram uma lista de obras de Fantasia de referência, considerei uma vergonha que ainda não tivesse sido traduzido entre nós George R.R. Martin: agora que o foi, é uma vergonha se lhe respondermos com indiferença.
Por isso, aproveitem esta semana tão propícia ao Fantástico e a bem conseguida tradução de Jorge Candeias (anos luz à frente da tradução da edição pirata que ainda se pode encontrar no refugo de algumas feiras do livro), para mergulharem no mundo cruel, sombrio e violento de Martin; e acabarão por descobrir quão soberbo e resplandecente pode ser.