
Millenium, London, 2000
205 páginas
ISBN: 1-85798-997-X
The Centauri Device é um livro que por todos os ditames da lógica e do bom senso não devia ter envelhecido com tal elegância. O tempo que passou, inclemente na correcção dos futuros visionados pela ficção científica, devia ter-lhe arredondado as arestas, polido a superfície agreste até lhe retirar qualquer ângulo cortante. Devia tê-lo emasculado. Trinta e cinco anos acumulam um impressionante potencial entrópico. E no entanto, segundo romance apenas de um então jovem autor que juraria mais tarde abandonar para sempre a literatura de género apenas para regressar, qual filho pródigo, com novas mutações literárias, The Centauri Device é como uma peneira perante o vento: desgaste mínimo, durabilidade máxima. E o vento é uma presença constante nas escassas páginas deste soberbo exercício literário – um meio de fazer confluir personagem, narrativa e significado, uma chave para descodificar o universo literário de M. John Harrison. Em The Centauri Device, devemos prestar ao vento a importância que em The Committed Men (1971) era devida à chuva, sempre presente, mas nunca vista. Porque o vento é, afinal, o espírito, e num universo onde deus não passa de uma ilusão humana, o espírito não é mais do que o resultado das forças incontroláveis e imprevisíveis que nos arrastam como outrora às caravelas perdidas na tempestade. Ou não disse o próprio M. John Harrison que o tema central da sua obra é a “alienação, a sensação de que somos turistas na nossa própria vida, a diferença entre acção autêntica e acção inautêntica”.
“Truck shrugged. Events would carry him: it was left to him only to discover in which direction” (p.20). Truck, John Truck de seu nome, é o protagonista desta história impulsionada pelos ventos do acaso cósmico, um ex-soldado que não tem muitos mais degraus a percorrer na longa escada que leva ao fundo do barril da vida. É um fracassado, e como todos os fracassados destila filosofia por cada poro; e é um cínico (mas se lhe perguntarem, dirá que não), e como todos os cínicos, é um romântico. E como todos os românticos fracassados, vê-se confrontado com a responsabilidade de mudar o mundo – é o que os românticos mais desejam, o que os fracassados mais temem. Encolhido na carapaça da poeticamente baptizada My Ella Speed, uma nave de carga que comprou com os ganhos acumulados enquanto militar e delapidados à medida que ia sendo enganado por uns e por outros, Truck é um referente (como o do conto de Bradbury, sim), deixando que sejam os outros a definir aquilo que ele é, aquilo que ele diz ser, uma incógnita, uma máscara maleável, uma cifra. Não podemos acreditar em tudo que ele nos diz, em nada do que dele nos dizem. Mas o universo possui um sentido de ironia que só as vastidões infinitas de espaço e de tempo podem proporcionar, e John Truck vê-se certo dia convertido no centro das atenções de toda a gente: quis o acaso que ele fosse o último dos Centaurianos, uma raça que em vésperas de aperfeiçoamento da arma suprema desiste inexplicavelmente de combater as forças terrestres sitiantes e se deixa aniquilar com a passividade que mais tarde caracterizaria a vida de Truck (mesmo a sua principal afirmação política é passiva, tal como Pater, o líder anarquista e avatar de Moorcock – ou talvez de Jerry Cornelius – lhe observa, mordaz: "So far, you have saved the Galaxy immense pain solely by your own selfishness! (…) …all you’ve done so far is to run away from people you don’t much like” (p.77-78).
Porque Truck é o único capaz de activar uma bomba consciente que os Centaurianos deixaram abandonada nas ruínas do seu planeta – o engenho que dá título ao livro, o Engenho Centauriano. Um bomba que é disputada pelo Israel World Government, pelas United Arab Socialist Republics e pela seita de ascendência católica dos Openers (uma das mais brilhantes sátiras religiosas que alguma vez surgiram na história da literatura). E assim, John Truck vê-se subitamente colocado na pouco invejável posição de não ter nada para dar a quem dele exige. Ele é o gatilho da mais poderosa arma do universo, a rachadela que sobressai da mais perfeita escultura, a negação na estética absoluta. Capturado, não pode ceder sem se anular completamente, em fuga não tem onde se esconder do ímpeto dos acontecimentos.
Se a narrativa de The Centauri Device corresponde à estrutura de uma convencional space opera, onde não faltam contrabandistas, batalhas espaciais (magnificamente imaginadas na amplitude das deflagrações silenciosas), entradas e saída do espaço linear para zonas que a física remete para a nossa imaginação, a forma constitui uma afirmação em si mesma de uma intenção literária, de um manifesto de princípios que modificou inapelavelmente o desenvolvimento do género. Um exercício de virtuosidade que não está ao alcance de qualquer um. Em 1989, no texto de apresentação de Harrison incluído no Helicon Programme Book, John Clute referiu que “From the very first his (Harrison) originality lay not in the exploration of new forms and habitats for speculative fiction, but in his corrosive repossession of the old”, e se aqui reproduzo essa sua síntese do método Harrisoniano (se o podemos considerar método, e não instinto) é porque é a que melhor traduz a essência desta peculiar ópera espacial.
Porém, para melhor saborear esta reformulação dos tropos familiares de um dos subgéneros estruturantes da ficção científica, importa não perder de vista que The Centauri Device foi escrito no apogeu da chamada New Wave, movimento sem manifesto de que M. John Harrison foi um dos principais expoentes. Desde logo a dicotomia Israelo-Árabe, as referências aos corpos a serem carregados em naves-caixão em Canes Vanatici (Vietnam), a estética anárquica dos homens de Swinburne Sinclair-Pater (a pop culture dos anos 60/70 por excelência), remetem para uma datação histórico-cultural inconfundível. As experimentações literárias da New Wave ambicionavam uma identificação entre arte e comentário político, propunham uma unificação estética decadentista, impunham uma leitura musical do texto. O espírito de Jerry Cornelius percorre as páginas desta novela como o vento percorre as ruelas de Sad al Bari IV, assobiando uma ária ao mesmo tempo apoteótica e final.
Atente-se (um exemplo entre muitos) na descrição da tripulação de Pater em acção: “They trailed loops of cable from portable computing facilities, calling off queries and co-ordinates in a rising chant. A subsonic ground bass reverberated through the body cavities; other voices chattered and decayed in the foreground like the cries of autistic children heard in a dream.” (p.83); o ritmo da escrita é musical, tal como as referências que se repetem uma e outra vez (a par das referências religiosas, com o cântico a fazer a ponte entre ambas). No límpido barroco da escrita de Harrison, encontramos uma fascinante transmutação da space opera em pura Ópera, um ritual codificado onde o velho e o familiar se reveste de novas formas, cores e expressões. Truck é um código, um código genético único, a chave que permite abrir uma arca de segredos inesperados, é – se o quisermos – a própria password do universo. Talvez por isso seja tão adequado que ele nunca compreenda os demais códigos com que se depara, que constantemente se perca na geografia labiríntica de significados que não estão ao seu alcance, porque ele se encontra numa outra frequência, numa outra harmónica.
Ao fim e ao cabo, a música também é um código, mais uma das manifestações da necessidade de organização que domina o cérebro humano. Todas as personagens em The Centauri Device apresentam uma face oculta, uma área de sombras que não é possível penetrar ao primeiro contacto. E Harrison, o demiurgo deste universo que nos esconde também a sua lógica (mas que está lá, tão firme, segura e coerente como a tabela periódica), brinca connosco, afastando o tapete de sombras sempre um pouco mais dos nossos dedos curiosos: “’Then perhaps as we might consider mirrors’ she teased, and secret languages surfaced in her eyes” (p.101) ou “His diabolic or malefic avatar lurked just beneath his eyelids, peeping out but endeavouring to remain unobserved” (p.105).
Suprema ironia a que Harrison constrói na sua seita dos Openers, com as suas janelas de plástico abertas na derme para expor a verdade interior ao deus católico que tudo devia saber, que tudo devia ver. Uma fé tão transparente, tão pré-glastnost, tão louca, que leva os Grão-Mestres a tentar viver imóveis para todo o sempre em corpos de vidro que expõem a visceral crueza dos processos orgânicos, onde a alma é literalmente comparada às dobras intestinais. Imóveis e à escuta da música das esferas que permite chegar a deus; mas a Ópera filosófica e científica e niilista de Harrison ecoa melancólica pelo universo vazio, antecipando em mais de duas décadas a construção da religião e da espiritualidade seculares que tentou com o seu mais recente díptico Light (2002) e Nova Swing (2007), uma espiritualidade na qual “mathematics, the complexity that lies behind everything is, as it were, the guiding, moving principle but it is not anthropomorfic: it’s not God, it’s just there by accident, it’s a billion, billion accidents happening every second to produce what we see” (entrevista com MJH, SFX 01/2007).
The Centauri Device é um livro ímpar. É um livro imerso no seu tempo e, no entanto, de uma abrangência intemporal. É uma amálgama cultural, um dissolver progressivo das várias fronteiras e identidades. É uma anedota, uma saborosa ironia. Num tal cenário – tão semelhantes são o início e o fim das civilizações – apenas o indivíduo conta, apenas o indivíduo pode marcar uma posição. Apenas o indivíduo pode mudar o mundo… ou pôr-lhe fim. Escutemos o vento que geme em cada página deste livro, jubilemos com o crescendo operático com que uma sociedade niilista procura ultrapassar o ennui que a paralisa, desfrutemos da poesia da escrita de Harrison – uma prosa de uma elegância absoluta… só assim podemos compreender todo o impacto do silêncio final.
Outras leituras podem ser encontradas no CÍRCULO DE LEIBOWITZ:








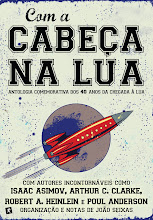










































7 comentários:
Não sei se teria gostado mais deste livro se sentisse uma maior empatia com os anos setenta. Este livro tem realmente elementos inevitavelmente associados a essa década,mas a minha geração é um produto dos anos oitenta, especialmente, os anos noventa.
De qualquer forma, não precisamos de ter vivido numa certa época para podermos apreciar livros desse tempo. Mas neste caso em particular, penso que teria apreciado mais a obra se me identificasse mais com a década em questão, ou se a compreendesse melhor. Isto é só uma ideia que me passou pela cabeça.
Olá Safaa,
Sim, é uma posição válida e que aceito perfeitamente. Aliás, acho que gostei mais do livro agora do que quando o li pela primeira vez há uns bons anos atrás. E talvez seja precisamente pelo quanto do meu tempo tenho ocupado ultimamente em torno das décadas de sessenta e setenta (coisa que se vai reflectir em breve aqui no blogue).
Mas como eu "maturei" nos anos 80, reconheço que aprecio muita "treta" da era do neon, dos leg warmers, dos blusões sem mangas e dos yuppies que se calhar alguém de uma geração anterior ou posterior não consiga apreciar (ou também pode ser porque a partir dos anos 90 foi tudo down the drain... mas divago).
Mas neste livro o Harrison consegue de facto captar a essencia do que foram os anos 60-70em Londres, com toda a contracultura e quejandos. Lendo as várias histórias (e escritas a várias mãos, incluindo o MJH) do Jerry Cornelius, encontro esse mesmo zeitgeist expresso dessa mesma forma: frases cheias de significados, apartes políticos à mínima oportunidade e, acima de tudo, um comentário estético-filosófico à sociedade do consumo e da me-generation.
Obviamente, isso nem sempre foi bom para a FC (houve mesmo quem dissesse que a New Wave queria destruir completamente a FC - e o inner space ballardiano bem tentou), mas o CENTAURI DEVICE consegue de certa forma inserir-se no movimento e ser amplamente satisfatório para os leitores de FC.
Caro João Seixas:
O correio do fantástico tem uma pequena surpresa preparada para o primeiro post deste "circulo" pois consegui uma entrevista com o autor M.J.Harrison. O problema é que ainda não tenho as respostas todas do autor que presentemente se encontra de férias no México, estou à espera da resposta à última pergunta. Será que posso adiar o post para o dia 22?
Roberto Mendes
Olá Roberto.
Claro que sim, e a entrevista é uma "surpresa" muito bem-vinda.
Excelente crítica João. Ainda bem que falaste dos Openers, para quem eu ainda gostaria de encontrar uma tradução diferente de Aberturizantes :D
Mas não deixo de sorrir ao pensar no SO Windows...especialmente quando Harrison refere o estranho brilho no olhar do Dr. Grishkin, um brilho de avatar malévolo à espera de sair e devorar tudo...lol
o problema deste livro é que é demasiado denso na simbologia e nas alegorias para ser devidamente tomado em conta nesta nossa era de fast-food. Já ninguém aguenta disto. Mesmo eu também o digo: é dificil ler o TCD decentemente porque não estamos habituados aos níveis de densidade.
Sim, Nuno, é bem verdade. Aliás, ao ler-se o TCD fica-se com a sensação de que cada parágrafo merece uma citação, um esclarecimento, uma homenagem, tal é a ramificação de referências que ele desperta. Por exemplo, a descrição do Pater, com o fatinho claro, a florzinha na lapela e o chapéu de palha lembraram-me logo fotos do Moorcock... e o nome Pater (pai), que o é ao que se sabe, de Himmation, mas em que podemos ler tantas outras alegorias religiosas.
O uso do Francês, apelando ao decadentismo baudelairiano, os tiques das personagens... tudo magnífico.
Mas é sobretudo essa a sensação com que se fica: de um palimpsesto onde a leitura nas entrelinhas é tão importante quanto a própria narrativa.
E que maravilha que é ler um livro onde a acção - que não é muia, dada a relativa simpliciade do plot - é descrita de uma forma tão directa, credível e ao mesmo tempo tão lírica. Até nos pequenos detalhes, como quando ele descobre que os tipos que o agridem no início do livro eram Israelitas por causa dos cordões dos sapatos. Brilhante.
E claro, é impossível não gostar d eum livro onde as personagens têm nomes tão delirantes como Angina Seng.
Algo que ninguém referiu e com o qual delirei foi descobrir que John Truck usa aquela casaco de pele de cobra, que me fez logo flashar com o Saylor/Cage do Wild at Heart do David Lynch (a symbol of my individuality and my quest for personal freedom - dizia ele, se bem me lembro). Até um amigo meu que não é muito dado a ler FC, ao ler o início onde isso é referido flashou o mesmo. É a força dos simbolos corriqueiros na cultura contemporânea! lol
Enviar um comentário