
Pois bem. Fui ver o último Indiana Jones. Com o coração aos saltos de antecipação, sem conseguir explicar muito bem porquê. Ou melhor, sabendo demasiado bem porquê. Todos temos um livro que gostávamos de ter escrito, um filme a que gostávamos de ter estado ligados. Comigo é o Indiana Jones. É a personagem que eu gostava de ter criado. A história que gostava de ter contado. Por isso, ao sentar-me naquela sala de cinema, sofrendo enquanto corriam os trailers de outros filmes menores, antecipando os primeiros acordes da celebérrima trilha criada por John Williams, tinha na cabeça aquela que era a maior dificuldade de Lucas, Spielberg e companhia: como ultrapassar o nível de uma trilogia de filmes que, para todos os efeitos, são quase perfeitos? Como ir de encontro às expectativas criadas durante dezanove anos, ultrapassando dezenas de filmes que nesse interim imitaram o modelo criado em 1981 por Raiders of the Lost Ark (um dos poucos títulos que me soam deliciosamente na sua versão portuguesa, Os Salteadores da Arca Perdida)?
O filme começa bem, com Elvis na banda sonora, o magnífico deserto do Nevada fotogrofado por Janusz Kaminski e um carro artilhado que nos referencia imediatamente o American Graffiti (1973) de Lucas. É apenas um apontamento, pois o olhar da câmara acompanha antes um convoy militar que se dirige a uma base do exército. Os soldados que seguem nos camiões e veículos militares são na verdade uma (inverosímil) força soviética que imediatamente elimina os sentinelas e ocupa as instalações. Indy é tirado da mala de um dos carros; primeiro o icónico chapéu, que rola pelo chão, depois o arqueólogo, inconfundível, filmado num vertiginoso plano picado. É a sua sombra que vemos mover-se sobre a lateral de um dos carros, apanhar o chapéu do chão, pô-lo na cabeça... soa o tema de Indiana Jones e sinto instalar-se em mim uma sensação de estranheza que não parece natural.
Recordo-me do que John Seabrook escreveu sobre George Lucas no The New Yorker de 06 de Janeiro de 1997, referindo-se ao Skywalker Ranch e a Star Wars: "He has made the future feel like the past, which is what George Lucas does best. (...) It makes you feel a longing for the unnameable thing that is always being lost (a feeling similar to the one you get from Lucas's second film, American Graffiti, which helped make nostalgia big business) (...)".
Indiana Jones in the Kingdom of the Crystal Skull, desde o momento em que Indy aparece como uma sombra perfeitamente reconhecível (the man in the hat is back!, titulava a Empire #227), é um exercício de nostalgia, um regresso àqueles filmes de aventuras que rasgaran espaço e mercado para os modernos blockbusters que atafulham os multiplexes; é uma declaração de amor a um herói que agrega em si as dezenas de heróis que o antecederam, de Doc Savage a James Bond, de Lash LaRue a Don Winslow; um regresso a uma juventude idealizada de matinés televisivas e cinematográficas e longas tardes de verão. E, no entanto, Indiana Jones, com a mesma indumentária dos filmes anteriores (ambientados entre os anos 1935 e 1938) parece de certa forma anacrónico entre o ambiente rockabilly dos anos 50.

Harrison Ford já não é jovem e, pese embora as fotos publicitárias, já não veste bem o personagem; apesar de terem decorrido os anos da guerra (1939-1945), e de ele ter preenchido o papel para que Lucas o imaginara inicialmente (uma espécie de James Bond do entre-guerras) - Indy trabalhou como espião para o OSS americano durante a segunda guerra -, e não obstante o clima tenso dos anos do maccartismo, Indiana Jones parece ter perdido o saudável cinismo que o marcava nos anos de juventude. Talvez seja um sinal dos tempos, que nos exigem clean-cut heroes, mas parece-me mais um sinal de cansaço do actor (numa cena particularmente dolorosa de assistir, Indy é hipnotizado por um crânio de cristal, obrigando Ford a uma prestação física nada dignificante; mas adiantámo-nos: nessa altura, já o filme desliza rapidamente pela ravina que leva ao desastre), agora muito menos físico e delegando grande parte da acção do terço final a "Mutt" Williams/Henry Jones the 3rd (Shia LeBeouf).
Mas talvez isso nada significasse se o filme se tivesse mantido fiel a si próprio, fiel à essência da própria série. É o próprio Lucas que nos diz, numa entrevista publicada na Empire por altura d0 25 aniversário de Raiders (Empire #208 de Outubro de 2006), que o primeiro segredo da saga de Indiana Jones é manter a acção credível: "A lot of people now just do contrived action sequences. Even though people think Indiana Jones is so outrageous, it is believable. That was the thing that we did that James Bond didn't do (...)". Que ironia que Indy IV surja quando a franchise Bond foi rejuvenescida e remasculada com uma soberba reinterpretação do mythos por Daniel Craig e Martin Campbell. No mesmo ano em que tanto Rocky como Rambo conseguiram, de forma bem sucedida, recuperar a essência do papel icónico que desempenharam nos anos 80, a mesma década que viu surgir todos os filmes de Indiana Jones.

O primeiro sinal de que isso não aconteceria com Indy é-nos dado pelos enormes numerais " 51 " que surgem nas portas do leviatânico armazém onde encerrou o primeiro filme da série (fica por responder qual a lógica que preside à localização do armazém numa zona de testes nucleares... mas essa não seria a única pergunta de difícil resposta); o segundo, quando nos dizem que Indy estudou um estranho cadáver (mummified remains) há dez anos atrás, ou seja, em 1947. Até o menos atento dos espectadores fez a soma e chegou ao valor Roswell, e toda a tensão do filme se reduz a saber se Lucas, Spielberg e companhia vão mesmo reduzir Indiana Jones a um sucedâneo de von Däniken. Aquilo que poderia ser uma sugestão com piada, uma sequência de acção semelhante à que abria os filmes anteriores e que essencialmente serviam para apresenar os vilões, mas que não desempenhavam grande papel na posterior narrativa (à semelhança das pre-credit sequences em qualquer dos filmes da saga Bond), serve aqui para arrastar Indiana Jones para uma história medíocre, incapaz de sustentar a flagrante irracionalidade do plot, onde os personagens são meros reflexos de si próprios. Como se todo o filme assentasse exclusivamente na familiaridade com as anteriores entregas, a trama segue - quase passo a passo - os elementos canónicos: uma sequência na universidade onde Indy dá aulas, um enigma em forma de linguagem arcaica, a solução encontrada num mapa de pedra no solo de uma cela, a viagem a um local exótico, etc, etc...
Mas onde antes tudo isto funcionava pelo mero exotismo - tão estilizado que chegava a parecer real - ao reduzir-se a elemento estilizado, sabe a mero cliché, cenário das sequências de acção que decorrem sem qualquer relevo narrativo e num escopo tão limitado (por duas vezes temos guerreiros camuflados nas paredes e nas árvores; e a tão antecipada cena com animais não passa de uma banal marabunta, ainda que visualmente fascinante) que mais uma vez faz lembrar o cansaço e a idade de Ford. Ou, tremo em dizê-lo, a idade de Indiana Jones. A verdade é que a série abriu as portas a um novo universo no cinema de aventuras, fixando o modelo que seria imitado vezes sem conta, numa luta pela superação dos anteriores efeitos especiais até estabelecer a acção-caricatura de filmes como Die Another Day (2005) Crank (2006) ou Shoot'em Up (2007).
Se Indy agarrado ao periscópio de um submarino, arrastado sob um camião, saltando de um avião a bordo de um barco insuflável, dependurado de uma ponte de corda ou escapando de um zeppelin a bordo de um biplano parecia exagerado pelos parâmetros de um realismo estrito, funcionava maravilhosamente enquanto darring-do na tradição dos seriados de aventuras onde a tensão assentava no cliffhanger semanal, de onde o herói invariavelmente escapava de forma surpreendente. Se para Indiana Jones in the Kingdom of the Crystal Skull Spielberg prometia um mínimo de CGI por forma a recuperar a textura dos anteriores filmes, o produto final desmente as intenções. Indiana Jones transformou-se numa das suas próprias imitações: algo que os espectadores compreendem quando Indy sobrevive a uma explosão nuclear no interior de um frigorífico que é projectado a centenas de metros a uma velocidade vertiginosa, antes de se esmagar no deserto.
E, tal como as outras imitações, Indy IV padece de uma flagrante falta de imaginação: desde logo a premissa dos alienígenas como antigos astronautas, talvez a mais infeliz ideia que Lucas, Spielberg e David Koepp (que já assinara o argumento dos medíocres Jurassic Park e War of the Worlds) se podiam ter lembrado para ressuscitar a franchise. Uma ressurreição que parece satisfazer-se com o apelo à ignorância das gerações mais jovens, as únicas que poderão ser surpreendidas pela total previsibilidade dos principais elementos do filme. Só, por exemplo, quem nunca tinha visto o magnífico final da primeira season de Crime Story (1985-1986) será incapaz de reconhecer imediatamente a cidadezinha habitada por manequins como um alvo de testes nucleares; todos os outros bocejamos enquanto esperamos pela explosão (um dos mais memoráveis planos do filme e um dos mais belos cogumelos nucleares jamais filmados).
Nem tudo é desesperante, porém: dando razão às intenções de Spielberg, as cenas que melhor funcionam no filme são aquelas que assentam em efeitos on-camera, por vezes bastante simples: a sinistra maquilhagem dos guerreiros que se acoitam na necrópole em Nazca; os nativos que se descolam subitamente das ruínas de Akator; a deliciosa perseguição automóvel pela selva amazónica, a razar desfiladeiros, enquanto Cate Blanchett e Shia LeBeouf esgrimem com rapiers sobre os capots dos veículos... Cenas capazes de fazerem esquecer o absurdo das premissas, o plástico das performances, o oco das personagens, o ridículo de algumas cenas (Say rope, pede Indy, para conseguir agarrar-se a uma cobra para ser arrastado de um poço de areias movediças). Até Marion (Karen Allen), recuperada do primeiro filme, perdeu o carisma que tornou a sua personagem inesquecível, transformada agora numa espécie de Elise Keaton, uma caricatura da família nuclear que sempre foi o cerne das preocupações da obra de Spielberg. E que dizer de John Hurt, assoberbado pela mais cretina fala de que há memória em tempos recentes?
Indy: Where have they gone? Back to space?
Ox (John Hurt): Back to the space between the spaces...

De salvaguardar a magnífica prestação de Cate Blanchett, ao mesmo tempo sensual e fria, que compõe a sua Irina Spalko with tongue very firmly in cheek, parecendo ter percebido melhor do que Lucas e Spielberg aquilo de que realmente trata Indiana Jones. Só é pena que o argumento não lhe dê mais protagonismo.
Após dezanove anos de espera, é impossível não sentir que Indiana Jones in the Kingdom of the Crystal Skull fica aquém das expectativas; um exercício de nostalgia que falha em todas as frentes; um título que ficará na prateleira um bocado à margem, um pouco como Never say never again (1983), The Scorpion King (2002) ou Alien vs Predator (2005), filmes que destoam dos seus compadres, que revisitaremos de quando em quando, mas que preferiríamos não tivessem sido feitos.
Ford e Lucas parecem entusiasmados com a ideia de filmar mais episódios da saga (o período da Segunda Guerra, onde Indy foi espião, parece pedir alguma exploração); se isso é boa ideia, só o tempo o dirá.








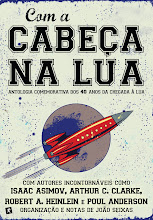










































4 comentários:
Boa tarde João,
Ainda que não sejam do meu tempo, ainda apanhei na minha infânica muitas tardes na rtp 1 com os filmes do Indiana Jones. E para mim naquela altura era dificil a decisão entre Bond e Indy...mas era muito mais interessante um Arqueologo sem pinta de playboy, e que era capaz de andar com a mesma roupa durante dias e manter o seu estilo de galã intelectual.
Tenho especial preferencia pelo Indiana Jones and the Last Crusade. Foram um marco da minha infância(apenas pela TV), várias vezes brinquei ao Indiana Jones, construi o templo do santo grall em legos com as suas armadilhas e passagens...
O teu entusiasmo inicial fez com que tivesse vontade de ver o filme, pois estava com um bocado de medo. Agora fiquei convencido, mas talvez ainda o vá ver.
Temos de admitir que é foi um objectivo demasiado ambicioso para os realizadores.
Penso que a trilogia, permite-me ainda falar assim, tem um sabor ainda mais agradavel pela quase insignificância com que foi criada.
Um abraço,
Aguardo o novo livro d'A Bondade dos Estranhos!
O filme é tão mau, tão mau, tão mau que irei dizer apenas que já li histórias do Tio Patinhas aos 8 anos de idade mais imaginativas do que esta tranmpa de história que foram cozinhar.
A mim nem sequer chatearia que usassem a bostice de Roswell, se ao menos a história e o "cutting" fossem como deve ser, mas é dificil ver 10 minutos do filme sem encontrar buracos, implausibilidades e pura cretinice...caso para dizer que mais valia terem ficado quietos.
Salve caríssimos. Eu penso exactamente o mesmo. A sensação com que fico é aquela de quando acabamos de cometer um disparate com consequências graves: foi questão de um segundo. Não era inevitável, nada daquilo tinha que acontecer forçosamente... bastava mudar aquele segundo... Neste caso, não ligar ao ultimato que o Ford fez em 2006, dizendo que se o filme não se fizesse nos próximos dois anos, já não aceitava participar. Bolas, Ford...
Quanto a Roswell... Acho que foi um total cop-out do Lucas e do Spielberg (que não se consegue deixar dessa mariquice dos aliens bonzinhos e sabedores - WotW not withstanding). O Lucas disse que o Indy IV era como "a B science fiction film from the 50s"(citado na EMPIRE #227), o que, obviamente, não é. Vendo bem as coisas, é um filme hipertextual, no sentido em que não tem qualquer conteúdo próprio: todos os elementos do plot "remetem" o espectador para outros elementos ficcionais ou culturais - o "51" na porta do armazém (remissão clara para a Area 51 e toda a mitologia X-Files e afins), a referência a Roswell (que mata logo qualquer suspense que o filme pudesse ter) a referência ao facto de os alienígenas serem uma hive-mind (comunismo, pod-people), os próprios enigmas são evidentes (aquele das cascatas era tão claro que se torna doloroso ver), etc..., etc...
Acho que onde Roswell falha, é numa coisa que o Lucas sabia no primeiro filme e de que se esqueceu agora. Cito Spielberg (EMPIRE #208): "Our biggest dispute was that I had this heavy-metal view of the character of Toht (Ronald Lacey). I saw him with a prosthetic hand that was in fact a machine gun and a flame-thrower. He was like The Terminator before The Terminator (...) That's where George (Lucas) put his foot down and said, «Steven, you're crossing out of one genre and into another». I agreed."
Penso que em parte, isso explica o falhanço. O Indiana Jones não é uma personagem de FC. É uma personagem de filmes de aventuras, onde o sobrenatural funciona.
"Most filmmakers don't realise how important it is to have a McGuffin that is both supernatural but people can actually believe in", diz Lucas numa entrevista no mesmo número da revista. Acho que quando ele se refere a este "believe", referir-se-á a "suspension of desbelief): é mais fácil suspender a descrença no sobrenatural contido dos anteriores filmes, do que nos aliens de Roswell (sendo criaturas naturais, suscitam perguntas objectivas a que o argumento não dá, nem pode dar resposta).
Daí, na minha modesta opinião, a razão do desastre: sem um McGuffin credível, toda a acção parece despropositada, uma máquina que se move por mera fórmula.
Por isso, Miguel, não creio que tenha havido excesso de ambição; houve, sim, muito pouca visão. Ao fim e ao cabo, Koepp não é, nem nunca será, um Lawrence Kasdan.
Enviar um comentário