
The arbitrement is like to be bloody.
William Shakespeare, King Lear.
Devemos forçosamente hesitar antes de abordar um texto como A Estrada e a Catacrese. Como um objecto estranho, circundámo-lo, entre curiosos e fascinados. Como uma daquelas ilusões estereópticas, oscila entre uma imagem que se quer afirmar e um caos colorido, sem sentido ou orientação. O pior de tudo, é não saber como o abordar. Sabemos que com paciência conseguiremos extrair a imagem da estática de cores, e ao mesmo tempo tememos que quando ela se forme, revele não ter valido a pena. E assim andei em volta dele sem saber como lhe pegar. Depois compreendi que a dificuldade estava em pegar-lhe sem que ele se desfizesse, sem que as frases se começassem a desenrolar despindo o vazio que tão cuidadosamente ocultavam. E o receio passa a ser outro. O texto é tão pessoal, a construção tão íntima do autor, que derrubando um, arriscámos derrubar o outro.
A verdade, é que a essência deste texto está no seu título. A Estrada, é claramente niilista, como ilustrada pela imagem de MAD MAX (1979), uma road to nowhere; a Catacrese é uma figura da linguagem que o Rogério aplica erradamente, pensando tratar-se da mera confusão entre dois termos. O seu texto é, assim, apenas isso: um erro que não leva a lado nenhum.
Porquê então abordá-lo? Porque devemos sempre admirar a valia de quem se lança na batalha, num campo que não é o seu, lutando uphill em manifesta desvantagem. E quando o adversário é destemido, ainda que inconsciente, o melhor que podemos fazer é dar-lhe luta, honradamente. Nem que para isso tenhamos que o trespassar fatalmente.
Sobretudo porque a intenção do Rogério é boa. Ele realmente quer defender o Fantástico nacional, embora não se aperceba do tremendo mal que as suas hipérboles, neste caso concreto, lhe podem causar. Em última instância, vejo no Rogério um D. Quixote do fantástico nacional: depois de anos a vasculhar a profunda estrumeira que vem transbordando das vanities sem lograr lobrigar as ansiadas pérolas literárias que está certo há-de um dia descobrir, levado pelo cansaço ou pela ilusão, pelo desespero ou desilusão, com os olhos cansados pela planura imutável que se estende à sua frente, opta por ver gigantes onde estão apenas moinhos de velas rasgadas, promessas de futuro onde morrem ontens cansados, venturas onde tudo é desventura.
Vamos então tentar não o machucar muito, certo como é que os seus erros não são de todo indesculpáveis, e a confusão demonstrada filha apenas da inexperiência, se não mesmo sintoma do eterno recomeço do Fantástico nacional que venho analisando numa outra série de posts. Que o é, pelo menos em parte, transparece da sua afirmação de que o “nosso” cânone “de momento pouco mais terá que o Frankestein, o Drácula, o Senhor dos Anéis, o Harry Potter, o 1984, o 2001, o Verne e o Wells”. Nesta espantosa frase, quase perdida na abundante verborreia jaculatória que domina o resto do texto, reside a essência do erro que lhe distorce a visão, como um par de lentes riscadas. Em primeiro lugar, a admissão de que o Fantástico nacional parece ser um mundo à parte, sem referências que não os picos mais visíveis da imensa frota de icebergs que desliza pelos profundos oceanos da imaginação; um Fantástico morto de sede em pleno mar, incestuoso, incapaz de dialogar com o mais vasto corpo de textos estrangeiros que nunca foram traduzidos cá. Em segundo lugar, revela que não entende o que é o cânone, que deve pensar tratar-se de um panteão de obras sagradas, intocável, petrificado, com todas as conotações necrológicas que tal metáfora contém. Em terceiro lugar, soçobra imediatamente sob o imediatismo do eterno recomeço, incapaz de pensar para lá do fenómeno de vendas, do fenómeno social, confundindo – ou procurando confundir –o que significa o impacto de determinada obra sobre o tecido cultural ou as convenções genéricas, com os fenómenos de massa gerados pelas redes sociais. Um exemplo: desde 2001, todos vivemos sobre o impacto directo do 11/9. Não há livro que seja escrito, filme que seja lançado, que não esteja directa ou indirectamente influenciado por esse acontecimento. No entanto, nos dez anos decorridos desde então, não se escreveu ainda, nem se realizou ainda, o livro ou o filme que traduzisse a real dimensão desse evento na mesma medida em que, por exemplo, THE DEER HUNTER (1978) traduziu o impacto da guerra do Vietname.
A influência de determinado texto não é apenas o do potencial de gerar imitação, ou consumo de massa. The Da Vinci Code poderá ter imenso interesse como objecto de estudo social, mas nunca fará parte do cânone literário, como ficou já demonstrado pela própria efemeridade do seu sucesso. Também não se pense que tem apenas a ver com qualidade: "Doc" Smith nunca será visto como um autor de grande mérito literário, tal como H.G. Lewis não será visto como um grande cineasta, e no entanto, poucas obras tiveram tanto impacto e ao longo de tantas gerações como as space operas do primeiro e o BLOOD FEAST (1963) do segundo. E não obstante, não os encontraremos no cânone.
Mas o objectivo deste texto não é pôr a nu a crescente confusão do Rogério; isso seria demasiado simples e bastar-nos-íamos com rebater ponto por ponto os seus argumentos específicos; interessa-me mais descobrir a raison-d’être que está subjacente aos erros proferidos, e essa não é menos simples de elucidar, mas mais importante de esclarecer: pergunta o Rogério “do que servirão estudos académicos sobre literatura fantástica nacional, se não acompanharem também, em tempo real, a evolução do campo?”. Poderíamos dizer que o Rogério procura apenas recuperar os argumentos estafados da Reflection Theory que nos diz que a evolução, em geral, de determinado campo cultural, reflecte a evolução em geral da sociedade. No entanto, e tal como Robin Wood (referindo-se ao cinema), também eu, enquanto a ênfase estiver no ‘em geral’, não vejo motivos para por em causa esse método de interpretação. Mas, tal como ele, também acredito que “as soon as one gets down to specifics, however, it proves far too simple: (…) within the overall movement there appear cracks, disruptions, countercurrents” (in Hollywood from Vietnam to Reagan, Columbia University Press, 1986) o que diminui seriamente a sua valia. Mas o mais importante é observar que tal como a discussão do cânone desvia a atenção do que é importante, esta questão desvia a atenção da insuspeita importância do cânone. A confusão do Rogério é clara: ele confunde o estudo académico do género, com o estudo académico de um trabalho específico (neste caso, a tetralogia de Madalena Santos), e nessa medida traduz também a sua confusão entre o trabalho da academia e o trabalho da crítica.
Mas é talvez nessa confusão que o Rogério se mostra mais impreparado e mais filho do seu tempo (ou talvez de José Jorge Letria), assumindo-se como a corporização de uma posição cultural que é já um deprimente cliché, exacerbado pela ilusão democratizante das redes sociais e pela erosão da qualidade das Universidades desde a publicação do texto seminal de Fredric Jameson, “Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism” (New Left Review, 1984) e a tomada de assalto das Faculdades de Letras pelas histéricas teóricas dos Estudos Feministas, Marxistas e Multiculturalistas, acompanhadas das fraudes intelectuais de Lacan, Foucault, Kristeva, et. al.
Como escreveu Martin Amis, na introdução de um dos meus livros de cabeceira, The War Against Cliché (Vintage, 2002), numa passagem algo extensa, mas que julgo de todo pertinente transcrever quase na íntegra, “Literary criticism, now almost entirely confined to the universities, thus moves against talent by moving against the canon. Academic preferment will not come from a respectful study of Wordsworth’s poetics; it will come from a challenging study of his politics – his attitude to the poor, say, or his unconscious ‘valorization’ of Napoleon; and it will come still faster if you ignore Wordsworth and elevate some (justly) neglected contemporary, by which process the canon may be quietly and steadily sapped. A brief consultation of the Internet will show that meanwhile, at the other end of the business, everyone has become a literary critic – or at least a book-reviewer. Democratization has made one inalienable gain: equality of the sentiments. I think Gore Vidal said this first, and he said it, not quite with mockery, but with lively skepticism. Nowadays, nobody’s feelings are more authentic, and thus more important, than anybody else’s. This is the new credo, the new privilege. (…) The reviewer calmly tolerates the arrival of the new novel or slim volume, defensively settles into it, and then sees which way it rubs him up. The right way or the wrong way. The results of this contact will form the data of the review, without any reference to the thing behind. And the thing behind, I am afraid, is talent, and the canon, and the body of knowledge we call literature.”
Compare-se com aquilo que o Rogério escreveu (“As resenhas não almejam a constituição, ou imposição, de um cânone pessoal. São um reflexo da minha reacção como leitor às obras, e uma tentativa de enriquecer essa leitura com algumas considerações que me parecem relevantes no quadro das próprias obras, e do seu enquadramento no panorama do fantástico nacional (e por vezes internacional)".) e não admira que ele considere ridículo um exercício verdadeiramente crítico. (“Imagine-se o ridículo de tal exercício”.)
Pelo contrário, considero que se alguém defende que determinada obra merece ser estudada pela academia, ou que uma outra ocupa um lugar de destaque no momento presente do desenvolvimento do género, deve forçosamente ir além da mera opinião pessoal e qualificá-la com exemplos concretos. Mas quais são os fundamentos (“factos”, diz ele, sem se rir, mas sem evitar fazer-nos rir) que justificam as suas considerações?
“A série As Terras de Corza abarca quatro volumes, publicados em cerca de cinco anos. Ambientada num universo inventado, na sua maioria imbuída de um tom de fantasia épica, apresenta-se desde início com especial consistência e originalidade. Dando de barato a idade da autora, ressalta na obra um rico conteúdo reflexivo, nomeadamente sobre o papel da mulher, e a natureza da conquista e manutenção do poder, entre outros temas que perpassam a série. Outro facto não negligenciável é a competência com que o arco da história foi iniciado, percorrido e encerrado; concedendo-lhe um esqueleto que efectivamente cimenta a saga numa obra única e coerente. Contrariando o deslumbramento que poderia advir a uma autora tão jovem, a história não se desvia da sua espinha-dorsal, o que faz com que muitos temas sejam apenas aflorados no que impactam directamente nos personagens, apesar de se intuírem maiores ponderações e motivações da autora nos bastidores.”
Atente-se bem (entre parêntesis factos que o texto não esclarece): Quatro volumes. Publicados em cinco anos. Universo inventado. Tom de fantasia épica. Consistência (a que nível?) e originalidade (em quê?) Idade da autora (como se reflecte na obra?). Rico conteúdo reflexivo sobre o papel da mulher (qual é e em que se traduz esse conteúdo?) e a natureza da conquista (de quê, qual é, e de que forma se traduz?) e a manutenção do poder (manifestada de que forma?). Competência do arco histórico (qual a estrutura, e em que medida de afere essa competência face à complexidade do arco narrativo? E qual é esse arco?) Unicidade e Coerência da obra (Única em quê? Coerência a que nível?). E assim por diante, ad infinitum, ad nauseam…
Na realidade, experimente o leitor (quer neste post do Rogério, quer na resenha inicial) substituir “a série As Terras de Corza” por “a saga A Song of Ice and Fire”, ou por “as Crónicas de Allarya”, e disporia exactamente dos mesmos elementos para aferir da validade daquilo que o Rogério nos diz.
O caso do Pedro Ventura, como nos é dito, e concordamos, é ainda mais rápido de consubstanciar, pois os erros são os mesmos, a redução da análise literária ao gosto pessoal ainda mais gravosa (“é um livro que o leitor ou adora ou odeia”, como se o livro não tivesse vida para além da subjectividade do leitor); o afã de engrandecimento é tal que quando o Rogério nos diz que “A linguagem utilizada poderá revelar-se outro ponto de ruptura. Assumidamente grandiloquente, poderá para alguns leitores ser insuportavelmente pomposa”, ficamos sem saber se está referir-se a frases ineptamente verborreicas como “(…) uma mulher que estava nesse grupo contou-me que perguntou ao Darkleton o que o levava a prestar-se a cometer um tal acto de coragem” (p.291) ou a clichés banalizantes como “Não te preocupaste em saber como eu estava quando me deixaste....” (p.111).
O que fica é a confissão de um desespero, se calhar inconsciente, de não conseguir encontrar a obra de qualidade que almeja revelar. Mas ao emprestar a tais obras as hiperbólicas qualidades que só ele vê rodando entre as brumas da planície, nas velas rotas de um moinho que não chega a ser gigante, não é só D. Quixote quem fica pendurado com os fundilhos a espreitar dos andrajos que pensava ser uma armadura, são também os verdadeiros gigantes que se vêem reduzidos à dimensão de moinhos mal amanhados.
Talvez para a próxima, em vez de beber dos delírios bélicos de Henry V, o Rogério ouça o conselho mais sóbrio e ponderado de Polonius, antes de se lançar numa campanha dominada pela emoção:
Ay, springes to catch woodcocks. I do know,
When the blood burns, how prodigal the soul
Lends the tongue vows: these blazes, daughter,
Giving more light than heat,—extinct in both,
Even in their promise, as it is a-making,—
You must not take for fire.
William Shakespeare, Hamlet








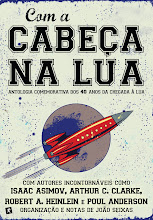










































22 comentários:
Isto anda quentinho para estas bandas, anda, anda!
Estava a ler isto tudo, mas uma pequena oração obrigou-me a parar imediatamente e vir comentar: "como se o livro não tivesse vida para além da subjectividade do leitor". Ora aí está uma bonita frase que trazduz de forma genial o que é a vida de um livro. Porque um livro efectivamente não tem vida para lá do gosto de um leitor.
Para mim, a título pessoal, a vida da colecção do Filipe Faria acabou no terceiro volume, quando o meu pessoal e subjectivo gosto me disse que bastava de atentar contra ele. Para o meu irmão foi até ao último e até apreciou bastante este.
Para mim, a título pessoal e puramente subjectivo, 'Os Maias' do Eça, são das obras em língua portuguesa melhor escritas. Felizmente para encontrar um punhado de gente com a opinião contrária basta-me ir até à secundária mais próxima.
E se as Universidades foram invadidas por bandos de valquírias sobre-hormonizadas, ainda bem, porque eu subjectivamente não tenho de me rever no que elas dizem. Aliás, nem tenho de me rever no que elas lêem ou escrevem, porque tenho a minha opinião, subjectiva por ser minha, que dita o que gosto ou não. Só que para saber se gosto, pelo menos tenho de começar a ler!
Eu não gosto do Faria, não pelas capas a dar para o infantilóide dos primeiros três volumes, mas pelo que está lá dentro. Não gosto d' "A Cidade e as Serra" por ter uma incapacidade crónica de passar da página 50 (4 tentativas, 4!!). Não gosto do último terço d' "O Envangelho Segundo Jesus Cristo", apesar de achar os dois que o antecedem excelentes fragmentos de literatura.
Por fim, não gosto de críticas analíticas a livros. Como a qualidade É subjectiva, encarar um livro em análises frias vai invariavelmente acabar em algo que nos apresenta o menu "formatar" do word e muito menos o conteúdo.
Ah, meu caro R.B., mas aqui é onde discordamos: é que eu acredito firmemente que um livro existe para lá da subjectividade do leitor, pois se assim não for, o valor de cada obra ficará sempre indexado ao gosto pessoal de cada um, com as suas limitações e particularidades.
Um miúdo de dez anos a quem seja dado a ler o DAHLGREN do Delany, não só não compreenderá, como não gostará do livro. Um estudante universitário, poderá compreender o livro e gostar dele ou não, mas saberá ver o valor da obra (que é, ao fim e ao cabo, aquilo que lhe dá vida). No caso do FF, pode gostar-se ou não (e não tenho dúvidas de que haverá quem goste) mas não podemos bastar-nos com o gosto à laia de aferidor de qualidade.
E é, ao fim e ao cabo, à qualidade que eu me referia. O que eu acho curioso é que este - a confusão do gosto com a qualidade - é um problema que apenas ganha laivos de confronto quando estamos nas áreas da arte; o que, penso eu, se explica pela reacção das ditas "elites culturais" ao surgimento da arte popular (música, literatura, cinema, etc...). E, as mais das vezes, essa reacção não era contra a forma, mas contra o conteúdo: os temas tratados não respeitavam os clássicos, não apresentavam "gravitas", eram politicamente incorrectos.
E é aqui que está a chave do problema: com o conteúdo a ser cada vez mais substituído pelo superficial (pela sensação, pelo emocional), deixa de ser possível o distanciamento entre a sensação e a apreciação intelectual.
(continua)
Já no caso das Valquírias sobre-hormonizadas (como dizia o Andrévon no seu FURÃO, "estas gajas de esquerda não valem nada, mas quando são boas, são mesmo boas") o problema não se prende com o gosto, mas com o saber se os seus intrumentos interpretativos se mostram adequados. E a verdade é que a experiência tem demonstrado que não, relegando-os para as faculdades de letras e para pós-docs que ninguém vai ler e que não têm qualquer aplicação na vida real.
Exemplifiquemos de forma a tentar conjugar os temas anteriores: ninguém levanta problemas semelhantes quando falamos de uma cadeira. Se nos sentamos nela e ela tem uma perna mais curta do que a outra, somos unânimes dizendo que ela tem um defeito. Independentemente de haver alguém que subjectivamente, sinta prazer em estar sentado nela (seja por afinidade emocional, por questão de personalidade, por ser do contra, isso aqui não interessa).
O mesmo se diga da confecção de um bolo: podemos ou não seguir a receita, podemos inovar, trocar um ou outro ingrediente, fazer com que ele fique mais ou menos doce, e tudo isso estará dependente do gosto de cada um. Mas por detrás do bolo está o método da confecção. E nesse, podemos variar o qui quisermos, que se a massa estiver dura, o creme seco, a crosta queimada, pode haver quem goste, mas será sempre um bolo mal feito.
Agora imaginemos um bolo delicioso, e para não onerar ninguém, vamos admitir que todas as pessoas que o vão comer, após provarem, vendados, são unânimes em dizer que o bolo é delicioso. E no entanto, quando a venda é retirada, descobrem que o bolo tinha a cobertura de açúcar distribuída no padrão de cores da bandeira americana; ou cubana; ou que a decoração era um agressivo falo. Independentemente do sabor, ou da confecção, quase todos apontam defeitos ao bolo por causa da decoração e recusam-se a comê-lo.
Estão aqui os três níveis da literatura: a confecção (que é a parte técnica - e essa é sempre passível de uma análise fria e desapaixonada: pura e simplesmente, há quem não saiba escrever); o sabor (que é a parte subjectiva: esteja ou não mal escrito, há sempre quem goste, e há sempre quem odeie, e há quem saiba aproveitar o que tem de bom apesar dos defeitos); e há a cobertura (neste caso, o conteúdo político, que é, quase sempre - e friso o quase, pois isto não é verdade em sistemas de pensamento ditatoriais ou religiosos -, inteiramente independente da confecção, mas que pode ou não afectar o sabor, dependendo de cada um).
Penso que através desta metáfora mal amanhada (diria mesmo, que verdadeiramente Fariana),e a necessitar de tremendas precisões, se alcança que a qualidade não é forçosamente subjectiva. Subjectivo é o gosto - e este também se educa.
Um grande abraço,
Seixas
Bom, nas questão dos exemplos de como a vista influencia e de que maneira o que sentimos, podia-se ir buscar a confeição das fezes a serem ingeridas no Salò.
Adiante... Dizer se um livro está bem escrito, havendo regras de como escrever, é uma tarefa relativamente fácil, bastando para tal estudá-las e poder julgar. No caso do Faria, duvido que 4 menções numa página ao volume dos seios da principal protagonista, feitas com as mesmíssimas palavras possa ser considerada como o tipo de repetição que enriquece o texto. No entanto a repetição como forma de enriquecer um texto, existe. Ou as ironias, ou as hipérboles. O que não quer dizer que todos os leitores o percebam, muito menos que gostem.
Só que o gostar não se relaciona com o perceber! O caso de quem lê um livro enquanto jovem e não gosta: vai influenciar decididamente a forma como lê.
Já no caso dos Valhallas académicos: ainda bem que existem locais onde se pode estudar e se pode aprofundar e se pode pensar e se podem fazer relações que não interessam a ninguém, porque se assim não fosse, coisas como Museu van Gogh não fariam sentido, bibliotecas com livros que não fossem técnicos não fariam sentido, filmes de entretenimento não fariam sentido e mais de metade da investigação científica não faria definitivamente sentido. Olha e não é que acabei de fazer o resumo do Anthem?
A questão da cadeira esbarra na funcionalidade. Os livros do Faria, da Madalena ou do Pedro têm por função entreter. Há quem se sinta entretido, há quem não se sinta. Mesmo na cadeira de três pernas, há quem procure equilibrar-se. Até há aqueles que investigam se a cadeira não estará certa e o chão torto.
Para outros, a culpa é sempre dos malvados carpinteiros que andam mais preocupados em fazer muitas cadeiras de uma vez e deixaram de prestar atenção ao que fazem. São pontos de vista, mas a cadeira, perdendo funcionalidade para todos, não fica incapacitada.
No entanto, o meu defeito para começar a divagar é por demais evidente.
No meio de todo este zumzum que por aqui vai, a questão não é saber se as obras em questão têm ou não qualidade (i.e. se estão bem escritas, se cumprem as regras, se o argumento recorre frequentemente a intervenções mais do que divinas,...), e não tanto se gosto, não gosto.
Claro que a crítica não será nunca desprovida do sentimento que o crítico sente para com a obra. Ainda bem! Saber que fulano X, cujo gosto eu partilho, gostou de um livro, ou vice-versa, a mim enquanto consumidor ajuda-me.
Portanto: o Rogério gostou. E daí?
Num passado remoto, lá para o final dos idos anos 70, existia na Faculdade de Letras, no curso de literstura anglo-americana, uma cadeira dedicada à FC. Puto ingénuo que eu era, resolvi assistir às aulas para ver o que aquilo dava. Vi uma turma de jovens donzelas a resumir em voz alta os livros de FC que andavam a ler. Em português, claro. Porque as pobrezinhas, já no 4ano, não conseguiam lê- los na lingua original, nem sequer sabiam onde os encontrar. Resumiam-nos (pois este era o trabalho vom nota votada) e depois diziam a sua opinião: é muito dificil e complexo, este autor desconechido. (as meninas estavam a referir-se ao Lucky Starr and the sands of Mars, do "desconhecido" Paul French (um juvenile do Asimov). resumindo e concluindo: esta cadeira não durou mais de três anos no curriculum universitário antes de ser abatida com o máximo de prejuízo). Esta geração de leitores marcou a morte do gênero em Portugal. Como é que pode haver uma nova geração de leitores, quando esta última nunca chegou a encher as estantes das suas casinhas? Enquanto isso no pavilhão da Filosofia, considerava-se que ler ficção, fosse ela qual fosse, seria trair a justa luta revolucionária. A malta de esquerda não lia. A malta do técnico não lia. Acreditem, que a maioria dos professores de inglês que actualmente lecciona no ensino secundário nunca leram um único livro em lingua inglesa. Nesse passado que já agonia, resolvi oferecer o Hobbit a uma jovem de quem eu andava atrás, a arfar. Alguns dias depois perguntei-lhe o que estava a achar do livro. Respondeu-me com cara de pau, que "não gostava daquilo porque nada tinha a ver com a Realidade!". Calei-me. O arfanço finou-se. Fuck you, bitch, pensei. E parti para outra. Deste modo penso que estamos a falar de um vazio que nunca mais será colmatado. Morreu tudo. Morreram os leitores, os editores, os autores, as colecções foram destruidas pelas chamas, e os escritores, se alguma vez os houve, resolveram arrumar as canetas e partir para novas paragens. Pois sem material disponivel, que podemos nós recomendar a titulo de exemplo? Dizia o Rogério que a obra que estava a criticar, da Madalena Santos, era "original". Mas original em relação a quê ou a quem? Ao Clark Ashton Smith? Ao jack Vance? Ao Abercrombie? Os jovens autores portugueses optaram pela fantasia, por uma questão de facilitismo. É mais fácil descrever um acto de "magia" feita à pressa, do que uma sociedade futura, onde tudo é diferente, até mesmo o que se come ao pequeno almoço. Vivemos de facto num mundo gerado pela hecatombe do 9/11. Os leitores tornaram-se tecnofóbicos, talvez porque a tecnologia faz desabar Torres. Mas será que alguma vez leram FC a sério? Porque aí, nesse género maldito que todos se esforçam por ignorar, cairam Torres muito antes das Twin Towers. Basta lerem The Fall of the Towers do Delany. Mas a verdade é que os verdadeiros leitores do género acabaram. Assim como acabaram as colecções que eu em tempos dirigi. Precisamente por falta deles. Só que continuo a recusar-me a ler fantasias pseudo celtas portuguesas. Porque já li melhor, e porque, como todos os viciados em cocaína, preciso de doses cada vez mais fortes.
Abraços do JB
Eu falo sem ter lido uma linha da Madalena. Ou do Ventura. Ou de qualquer outro autor português que não o Fábio Faria.
Eu vou imaginar que o Rogério já leu outras ficções pseudo-céltico-nórdicas-blablabla. Ou pelo menos o Hobbit. Ou o Senhor dos Anéis. Aliás peguemos neste último. O seu autor é o primeiro a dizer que a obra não é original, que basicamente pegou num conjunto de lendas nórdicas e lhes deu uma roupagem nova. Portanto deduzo que é melhor começarmos já a afiar facas, porque como não é original há que estraçalhar até ao último vestígio de papel.
Morreu tudo... Mais do que ter morrido, parece que ninguém está interessado em que se leia. Tudo bem. Estes autores são todos maus. Leio o quê? Porque sinceramente, no domínio nacional o que conheço são pretenciosismos disfarçados de eloquência, algo de que nenhum dos jovens em causa sofre...
Caro R.B.,
O Barreiros refere-se, obviamente, à originalidade que esperamos encontrar num livro pertencente ao género do fantástico em que o autor não se limita a imitar uma fórmula, mas pensa o género e extrapola a partir das particularidades do mundo criado,com ambição não só de entreter o leitor, não só de surpreender o leitor, mas de acrescentar algo ao diálogo intrínseco do género, e ao próprio género.
O problema deste grupo de jovens "autores", àparte a manifesta incapacidade de escrever uma frase sem se recorrerem ao thesaurus ou sem tropeçarem na gramática, é que depositam todo o seu entusiasmo na imitação daqueles modelos que gostaram de ler. Nunca lhes ocorreu acrescentar algo a esses modelos, ir além deles, transcendê-los.
Não basta baralhar as cartas e distribuir novamente o jogo; é necessário acrescentar cartas novas. Se forem bem sucedidos, descobrirão que são capazes de mudar as próprias regras, pois o género pode ter que se adaptar ao seu input.
Quanto ao que ler, essa é verdaeiramente a questão que o Barreiros levanta, não é?
Tudo quando havia foi destruído na voracidade do eterno recomeço, e o que fica - porque o David Soares, o Barreiros, o LFS, etc... não chegam, considerados in toto, para três meses de leitura - está reduzido a uma mediocridade confrangedora.
A solução, obviamente, é ler e inglês, ou em francês, ou em espanhol (acresentem aqui a língua que quizerem: acho que o polaco nunca defraudou ninguém). O que não se pode fazer é explorar uma limitação de alguns leitores para justificar a leitura de obras que, a serem presentes a um editor, nunca teriam visto a luz de uma gráfica.
Como resolver isto?
Com crítica mais frequente, com incentivo a que os nossos melhores escritores escrevam cada vez mais; mas não, certamente, aproveitarmo-nos do vazio do horizonte, para fazer com que um monte de areia pareça uma montanha (como o Rogério fez, se calhar inadvertidamente).
Abraços,
Seixas
Caro Barreiros,
não sei a que faculdade foi, conclui a licenciatura o ano passado e asseguro-lhe que os livros agora são todos lidos na língua original e até as aulas são dadas na língua em questão (seja inglês, alemão, francês e espanhol), mesmo no mestrado de ensino escrevo muito em alemão e em inglês, ou seja hoje em dia já ninguém se queixa que não entende o que está escrito e se seu queixa é prenuncio que vai desistir do curso mais cedo ou mais tarde.
Fiquei desiludida quando entrou Bolonha pois a única disciplina que havia de Literatura Fantástica (que incluía o Hobbit) desapareceu! Os docentes viram-se desnorteados aos terem de diminuir um curso bem estruturado. Restou apenas a cadeira de Estudos Feministas onde lemos Ursula Le Guin, Angela Carter e imagine-se houve um aluno que apresentou um trabalho sobre os filmes do "Alien". De resto ninguém tinha ouvido falar da le Guin e todos esperavam que as aulas fossem o tradicional - professora despejar matéria.
A regente da cadeira que também é escritora, a dr. Ana Luísa Amaral, conseguiu num semestre fazer algo que poucos professores tinham feito até à data - pedir que pensássemos e reflectíssemos sobre o que líamos. Claro que muita gente não gostou do assunto - ter de pensar cansa e doí.
Durante um semestre fui muito feliz - lia um livro por semana e entrava nas aulas a sentir-me mais rica - aí a professora fazia menção de mais 5 livros que eu adicionava à lista para ler. Li "Handmaid's Tale" e as Brumas de Avalon, este ano já é o 2º livro da Le Guin que leio de Ficção Científica - tudo graças a uma professora que nos incentivou a ler de tudo um pouco desde poesia até FC.
Acho que estes gestos valem mais do que mil discussões na Internet sobre qualidade literária. Nesta altura do campeonato que me interessa ler coisas de qualidade de FC ou Fantasia? Leio os livros que julgo merecer o meu dinheiro e mais tarde o tempo encarrega-se de tudo.
Das Conversas Imaginárias no Porto consegui anotar uns quantos livros que mencionou - até posso a não gostar, mas não é melhor lermos de tudo um pouco mesmo que não tenha qualidade, do que NÃO ler ponto?
Ficaria surpreendido com a quantidade de alunos que em letras me dizem que não gostam de ler... Acho, como aluna e futura professora, isso mais triste, do que ver pessoas a ler um "Orbias".
Cara Adeselma:
A Faculdade que frequentei foi a Faculdade de Letras de Lisboa, no curso de Filosofia. Leccionei durante 35 anos até ficar mais que farto da desgraça em que a educação se transformou no nosso país e pedi a reforma antecipada. Nos intervalos nas diferentes escolas que frequentei, e que às vezes duravam mais fo que um hora, nunca, mas nunca vi nenhum colega a ler um livro que fosse. Salvo um ou outro que entretanto se tornaram meus amigos. Em tempos que já lá vão, cheguei a ter alunos que liam os meus livros ( e gostavam), mas nunca, nunca nenhum dos meus colegas, por muito estranho que isto possa parecer...
A cadeira de literatura de Fc ocorreu na Faculdade de Letras de Lisboa, em 76, 77, 78. Depois deve ter sido abatida lá por essa altura. A professora que heroicamente procurava dar esta cadeira, era a prof Salomé Machado. Num recente encontro sobre literatura fantástica na faculdade, em Novembro de 2010, entrei em contacto com vários profs, a maioria bastante simpáticos, a maioria deles razoavelmente ignorantes sobre o assunto em causa. Uma das organizadoras, aliás um amor de senhora, que dava literatura inglesa, nunca tinha ouvido falar do Monthagew Rhode James. Shame on you, I said to her. O melhor autor de ghost stories do séc XIX, e a estimada colega não o conhece? Vá já para casa lê-lo! Mas, contas feitas, todos os profes se queixavam do mesmo. Em cadeiras de literatura inglesa o alunos não queriam ler, e
só liam se a isso fossem obrigados. The horror, the horror, como diria o coronel Kurtz.
Para terminar, se a Adeselna quiser ler uma autora de Fc verdadeiramente feminista, recomendo vivamente todos os contos da James Tiptree (Alice Sheldon). Principalmente leia "Houston, Houston do you read?" e "The Woman men don't See". mas todos são excelentes e considero-a muitos, muitos pontos acima da Le Guin. Dela consegui publicar em português o "Brightness Falls from the Air", mas duvido que ainda consiga encontrar um exemplar do dito.
Mais violenta, e tão misandrica, que até arrepia, recomendo a Joanna Russ. O "Female Man" e o "We who are about to..." chegam mesmo a incomodar. Mas a minha heroina feminista, aquela que dá cabo de todos os homens, aparece na colectanea "The Adventures of Alyx". Joanna Russ morreu recentemente, paz à sua alma de guerreira, mas continuo a achá-la a melhor escritora que nos detesta, a nós, vis porcos chauvinistas...
Abraços
JB
Barreiros, shame on you as well...
O M.R. James pode ter nascido no século XIX, mas é claramente um autor so século XX, e todas as suas brilhantes ghost stories foram, ou escritas, ou compiladas, já no século XX.
Abraços,
Seixas
Tenho conhecimento da morte de Russ e da sua obra "The Female Man", embora o tempo não estique para eu ler tudo o que queria (o livro está na biblioteca da minha faculdade, mas sempre que vou lá pego noutro). Aliás o The Female Man e o Handmaid's Tale são estudados no mestrado de Anglo-Americanos
Quanto aos alunos - você tem sorte, se eles liam porque eram obrigados. Conheço pessoas que foram a exames sem lerem um único livro e passaram com 10 porque leram os apontamentos emprestados. É pena ter nascido em 88 senão por essa altura seria uma das que lia nos corredores (apesar da FLUP ter condições péssimas em matéria de lazer e tornar confortável o espaço aos alunos).
Mau, maus é ir à FNAC e ver a prateleira de Ficção Científica - doí olhar, deve ter mais pó do que livros.
Quanto aos livros - tenho que admitir que já namorei o "Flow my tears, the policeman said", o "Flowers for Algernon" e cheguei a ter o Duna nas listas para comprar. Li dois contos da Lightspeed magazine, contudo o tempo aperta e sinto-me perdida com tanta coisa que quero ler vs. coisas que tenho de ler. Já apontei os livros e juntei aos do CI.
Oops..what a mistaka to maka...em relação ao Montague Rhode James...de qualquer modo, o primeiro livro, Ghost Stories of an Antiquary, foi publicado em 1904. Alguns deles devem ter dido mesmo escritos no final do séc XIX...
Whatever...
JB
Do Keyes prefiro a noveleta à versão longa, mas o FLOW MY TEARS é um dos meus favoritos do Dick. É daqueles poucos livros que me dou ao trabalho de saber alguns excertos de cor, até porque foi um dos livros que mais estudei para escrever o meu EU, CLONE, em 1997-98.
Na altura a minha passagem favorita era precisamente aquela que justificava o título do livro, quando o Taverner quebra e chora:
"No, he thought. It's a reflex. From fatigue and worry. It doesn’t mean anything. Why does a man cry? he wondered. Not like a woman; not for that. Not for sentiment. A man cries over the loss of something, something alive. A man cry over a sick animal that he knows won’t make it. The death of a child: a man can cry for that. But not because things are sad.
A man, he thought, cries not for the future or the past but only for the present."
E, se não me engano, o livro é passado em 1988, quatro anos antes da guerra de 1992 do DO ANDROIDS DREAM... Talk about sinchronicity!
Seixas
Quanto às autoras referidas pelo João Barreiros, permitam-me acrescentar a pioneira C. L. Moore, que escrevia frequentemente em parceria com o marido Henry Kuttner. (Vários contos de ambos são de trás da orelha, como "Mimsy Were the Borogoves", "The Twonky", "What You Need" ou "Vintage Season".)
Estas colaborações relegaram um pouco as qualidades individuais de C. L. Moore para segundo plano, mas os trabalhos a solo, como as colectâneas Judgment Night, Shambleau, Northwest of Earth, ou a série de sword & sorcery Jirel of Joiry, entre outros, demonstram que era uma excelente autora por mérito próprio, para não dizer uma estilista bem mais competente do que o marido.
Infelizmente, o output da Moore esvaiu-se por completo com a morte do Kuttner e depois com a doença de Alzheimer que acabou por a matar.
Bom, já agora não esquecer a Leigh Brackett, que em termos de estilo e estruturação narrativa não ficava atrás de nenhuma delas, se não as ultrapassava mesmo.
Mais recente, uma autora que sabe adaptar-se com perfeição aos modos da FC e da Fantasia, e que demonstra grande mestria no domínio quer do conto quer do romance (e uma das minhas favoritas) é a C.J. Cherryh, que além do mais não falha ao abordar temáticas hard sf. Em Portugal só foram publicados o Hestia, o Vaga sem Praia e O Sol Caiu, todos eles muito bons.
Nunca publicadas cá, e um bocado mais polémicas do ponto de vista do tratamento das personagens femininas, Sharon Green e Jo Clayton (desta última deve destacar-se o ciclo do DIADEM FROM THE STARS, um misto de fantasia e planetary romance muito interessante, embora não de todo conseguido).
Ainda mais polémico, o Heinlein, na passagem da Podkayne of Mars para a andróide boazona FRIDAY, com paragem obrigatória na transposição de personalidades do velho industrial para o corpo da secretária boazona em I WILL FEAR NO EVIL.
E se pegamos nas questões suscitadas por estes títulos, nunca mais saímos daqui...
Seixas
E tirar estas recomendaçoes todas do armários dos comentários e fazer um (ou dois, ou três...) posts com o devido relevo?
Se calhar existem, mas tao esmagados se encontram pelos múltiplos ramblings que ninguém consegue encontrar os estilhaços.
Caro, R.B., esse conjunto de posts é uma necessidade que se impõe, e tentarei dar-lhe resposta nos tempos próxmos.
Aliás, porque é sintomático que alguns elementos aparecem sempre quando lhes cheira a peixe, mas desaparecem logo que começamos a falar de livros...
Somos uns elitistas, nós os que lemos...
Abraço,
Seixas
Ao ler e reler, quer este texto quer os respectivos comentarios, em especial os do João Barreiros, deparo-me com uma verdade que ultrapassa em muito o obvio das palavras do David Soares no blog da Safaa Dib ( Stranger in a Strange Land ) e que constam neste blog como “WORDS OF WISDOM”
"A ficção científica não está morta. Os leitores de ficção científica é que estão."
Ora é preciso ver para lá do obvio delas. Eles morrem, mas também antes haviam morrido, portanto o que é que desta vez se passou de diferente? A pergunta e resposta é dada pelo João Barreiros:
Esta geração de leitores marcou a morte do gênero em Portugal. Como é que pode haver uma nova geração de leitores, quando esta última nunca chegou a encher as estantes das suas casinhas? (...)
Morreu tudo. Morreram os leitores, os editores, os autores, as colecções foram destruidas pelas chamas, e os escritores, se alguma vez os houve, resolveram arrumar as canetas e partir para novas paragens.
Esta é a terrivel verdade que as palavras do David Soares falharam em mostrar, os leitores de FC não só morreram, mas pior que isso foram incapazes de deixar um nova geração que os precedece. Um geração inteira de leitores que afinal nunca nasceram. Portanto os leitores de FC (desta geração) não morreram nem deixaram de morrer, eles nunca existiram.
“Descobertos” os motivos pelos quais isso aconteceu segue-se em frente para descortinar como criar uma nova geração do (quase) nada. O R.B. NorTør acaba por dar o mote, mostrar a essta geração o que de melhor já foi feito.
Nem vale a pena o esforço. Uma das participantes nesta discussão foi para outro lado dizer que queria ler um artigo sobre o livro do Dick que o Seixas recomendou. Não o livro, que dá muito trabalho, mas um artigo. Uma burra amiga dela, que esteve no CI do Porto, diz que uma bula de medicamentos pode ser literatura!!! E aprendeu isto na universidade segundo conta!!!
Nem sei pra que está o Seixas e vocês a perder tempo a tentar educar esta cambada.
Caro coronel, venho só aqui dar um comentariozinho para completar o que já deixei exposto noutro lado:
Estas guerrinhas de alecrim e manjerona entre o Fantástico Círculo e o resto do mundo a mim, como leitor (não de género, de bons livros) só me afastam e quanto mais a conversa parece fruto de drogas de má qualidade, menos vontade tenho de pegar num livro "de género".
Mesmo assim não me tenho coíbido de comentar aspectos genéricos (marketing na questão das capas, o direito à opinião nesta mais recente questiúncula), algo que me estava até a tirar tempo das leituras que tenho. O seu comentário heróico veio chamar-me à razão. Para participar em circos panfletários não conte comigo. Passe bem, que tenho a Wheel of Time para acabar de ler...
Enviar um comentário