O primeiro filme da série James Bond que tenho memória de
ver é MOONRAKER (1979),
provavelmente o mais excêntrico e pulpesco de toda a colecção de aventuras
cinematográficas do agente secreto criado por Ian Fleming em 1953 (pelo menos
se não levarmos em consideração o extravagante CASINO ROYALE de 1967). Produzido no ano seguinte ao histórico
sucesso de STAR WARS (1977), um
sucesso que todos os grandes e pequenos estúdios, bem como os produtores
independentes, queriam imitar, MOONRAKER
entrou desabrido pelo universo da fantasia científica, presenteando os
espectadores com fatos espaciais de aspecto metálico como os dos velhos
seriados, armas de raios, bases espaciais, lutas no espaço, vilões (quase)
indestrutíveis. A série de filmes do agente 007, com a excepção da segunda
entrega, FROM RUSSIA WITH LOVE
(1963), sempre teve um pendor de tecnofantasia, pendor esse assumido não só nas
engenhocas desenvolvidas pelo departamento Q, mas sobretudo nos magníficos
cenários tecnofabulosos desenhados por Ken Adam, que assumiu as funções de set producer em sete dos vinte e três
filmes da série, tendo visivelmente inspirado todos os subsequentes,
inclusivamente os nove em que essas funções foram assumidas por Peter Lamont.
Para o meu eu aos oito anos, de olhos esbugalhados colados
no ecrã gigantesco, as magníficas bases secretas dos vários vilões
megalomaníacos adquiriam uma dimensão transcendental que prontamente procurava
reproduzir em casa com elementos de Lego ou com quaisquer outros materiais que
estivessem à mão. Tenho a certeza que um exército de pseudo-académicos
freudianos teriam inúmeras teses a debitar sobre o fascínio fetichista que
aqueles amplos espaços cavernosos, de arquitectura escorreita e asséptica, nos
quais se travavam estrondosas batalhas, dos quais emergiam fálicos foguetes, e
nos quais feneciam vilões e se consumavam paixões, poderiam exercer sobre a
mente pueril. Mas a verdade é que sempre me fascinou o gigantismo desses covis
de Ken Adam, de amplo pé-direito, recheados de apetrechos electrónicos de
funções indefenidas mas tão essenciais, entre os quais se esconde sempre um
improvável botão de auto-destruição.
Acho que todas as crianças têm o fascínio por
tudo o que é gigante, e não sei se o facto de alguns adultos – como eu – o
manterem muito depois da puberdade, pretende significar uma ânsia de retorno ao
ventre materno, à infância, ou tão só um pendor ditatorial e agressivo da
personalidade (dependendo dos académicos que quisermos ler…), mas o facto é que
o gigantismo sempre foi uma característica histórica, central da Ficção
Científica: desde o gigantesco gorila de KING
KONG (1933), aos insectos
mutantes de THEM (1954), ou THE DEADLY MANTIS (1954), passando pelo
gigantismo do normal de DR CYCLOPS
(1939), THE INCREDIBLE SHRINKING MAN
(1957), ou FANTASTIC VOYAGE (1966),
até aos Big Dumb Objects de inúmeras
obras literárias, de Arthur C. Clarke a Peter F. Hamilton, sem esquecer os
gigantescos cruzadores e a magnífica Deathstar
de STAR WARS (1977). Tenho a certeza
que muitos detractores do género encontrarão nisso sintoma do seu infantilismo,
mas revisitando regularmente esses covis de tecnologia avançada, vejo neles
generosas portas de entrada para o magnífico universo da Ficção Científica: ‘A wonderland, that’s sf, a realm of the
curious, through which a twentieth-century reader wanders like a Terylene-clad
Alice’ (Brian Aldiss, na introdução à essencial Penguin Science Fiction,
1960). Em tempos, também Alice foi considerada ficção só para crianças. Tal
como ela, sigamos o coelho, embora no nosso caso, seja um coelho mecânico, com
sistemas bélicos integrados e muito panache.









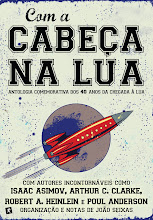










































Sem comentários:
Enviar um comentário