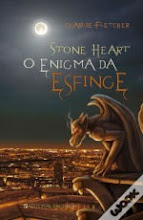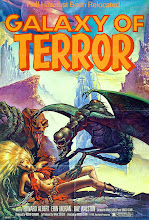Em resposta aos meus dois anteriores posts (e, reflexamente, ao post da Safaa Dib que inspirou toda a questão), o Nuno Fonseca publicou uma
extensa reflexão sobre o potencial de comercialização da FC, para o qual o
Rogério Ribeiro aponta , indicando-o como discordância do que eu aqui escrevi. Ora, se o texto do Nuno Fonseca tem alguns pontos de possível fricção com a posição por mim defendida, afigura-se-me que, no geral, não belisca minimamente o que afirmei.
Desde logo, Fonseca reconhece a realidade essencial que apontei no meu texto: algures entre finais dos anos 80 e meados dos anos 90 do século passado, desvaneceu-se o público leitor que sustentava praticamente em simultâneo, quatro colecções regulares de FC (Argonauta, Caminho, EA Bolso e Nébula) para além de outras iniciativas de menor duração (como a Contacto ou a Bolso Noite), fazendo com que o ritmo de publicação de FC sofresse um decréscimo de cerca de 32 volumes anuais (mais, se contarmos com a publicação ocasional de títulos de FC por outras editoras, fora de coleccção), para uns escassos 6 (na melhor das hipóteses, já incluindo esses títulos “surpresa”). Só que em vez de tentar explicar esse fenómeno, o Nuno opta por estender uma nuvem de questões, com o resultado de que as águas do debate parecem bastante mais turvas do que já estão. Algumas dessas questões, porém, são pertinentes, e merecem ser abordadas:
1) Antes de mais, a questão das tiragens: é verdade, como eu próprio reconheci, que os números são escassos. Porém, aqueles que temos, provêm de editoras com actividade frequente na área do Fantástico – e aplico aqui o Fantástico como incluindo a FC, e não no sentido Todoroviano, recorrendo a ele para indicar toda a literatura oposta ao mero realismo mimético, embora assuma que prefiro a designação FC&F, que sempre utilizei, para aquilo que se vem (erradamente) designando como Fantástico em geral – e que são surpreendentemente homogéneos. E, a menos que queiramos acusar todas as editoras de fraude e desonestidade, esses números são confirmados pelos relatórios de vendas que estas são legalmente obrigadas a enviar aos autores e que estes, querendo, podem livremente e a qualquer altura, sindicar. (Questão diferente, é a de saber se algumas editoras enviam esses relatórios e cumprem a legislação ou os contratos, mas essa é uma questão meramente acessória no thema decidendum sobre que versamos).
2) Questão imdiatamente conexa com essa, é a de apurar de que forma as alterações do livro-objecto podem ter reflexo nessa escassez de vendas. Ora, quer o Luís Filipe Silva, quer o António de Macedo, publicaram livros na Caminho antes e depois da transformação do formato bolso para o formato estante, com o concomitante aumento de preço dos (então) cerca de 350$00 para os 1.000$00 (o triplo do preço, uma medida já então fortemente criticada pelo Pedro Foyos em crónica no DN). Das conversas que tive com eles, não me recordo de as vendas terem sofrido uma quebra significativa (e se eles lerem este post, agradecia a confirmação ou a refutação deste facto), pelo que não terá sido essa a razão de afastamento dos leitores. Mas admito que a colecção azul da Caminho era relativamente sui generis em termos de conteúdo, e não disponho de quaisquer dados quanto às colecções da EA e da Argonauta. No entanto, a passagem da Contacto do formato hardback para o formato bolso, também não a impediu da extinção com fundamento na escassez de vendas. Actualmente, parece-me que é dado mais ou menos aceite, que o livro de bolso não vende, e que as recentes tentativas de retomar as edições de bolso (apesar dos preços mais baixos e, por vezes, das capas mais apelativas) foram um fracasso. Os leitores preferem comprar livros mais volumosos e mais caros, do que um número maior de livros.
Assim, e pese embora o entusiasmo do Nuno, falecem de imediato as suas duas primeiras conclusões, na medida em que equaciona a abundância de FC no passado com a certeza da possibilidade da sua publicação hoje e afirma que ainda existe hoje o público comprador de outrora (que não nos diz onde está).
3) Já a sua terceira conclusão (“- que toda uma geração foi exposta à FC escrita e que ela ainda existe em circulação, seja na casa das pessoas, em alfarrabistas ou simplesmente no imaginário ou "memória das estantes lá de casa") parece-me de pouco impacto para a situação actual do género.
De seguida, o Nuno Fonseca formula cinco perguntas, uma das quais foi respondida supra, outra das quais é parcialmente conclusiva e como tal só pode ser respondida clarificando as demais, e três bastante pertinentes, nomeadamente quanto a:
“- o peso que essas vendas terão no total da tiragem, no lucro da editora, de todos os intervenientes do mercado e, também importante, nas taxas de exposição e re-leitura;
- que há sectores a sobreviver com vendas e tiragens bem inferiores;
- a quem são vendidos esses números? “
4) Ora, quanto à primeira questão, a sua resposta é enganadoramente simples. Se uma editora imprime uma tiragem de 5.000 exemplares e vende 600, 600 esses que venderá se fizer uma tiragem de apenas 1.000 e que poderá esgotar caso se limite a uma tiragem de 600, o peso dessas vendas será sempre o mesmo, podendo fazer variar, isso sim, o peso do prejuízo. Mas a pergunta que realmente importaria formular como complemente necessário, é saber se vale a pena a uma editora de dimensão média/grande, pela margem de lucro obtida atentos os custos de produção (incluindo publicidade e marketing) e a constância das vendas, levar a cabo esse tipo de tiragem se não tiver um objectivo editorial que vá além da mera venda de livros. É uma questão que se prende intimamente com a seguinte e que leva a uma resposta similar: é possível que haja sectores a sobreviver com vendas e tiragens bem inferiores (imagino que a poesia seja um deles), mas aí importa apurar se vendas constantes de tiragens iguais ou inferiores a 600 exemplares não confirmam apenas que a FC é hoje um género pouco mais que marginal?; e se isso não é reconhecer que houve uma diminuição significativa do número de leitores de FC, que antes suportavam quatro colecções mensais e hoje têm dificuldade em assegurar uma venda de mais de 3.600 livros anuais (pressupondo a venda de 600 exemplares de cada um dos seis livros de FC publicados, optimisticamente, por ano).
5) Já a terceira questão, também conexa com aquelas, prende-se directamente com aquilo que eu escrevi. Ou seja, que em determinada altura, seja porque motivo for, quebrou-se uma cadeia de continuidade entre os leitores daquelas pretéritas colecções e os potenciais leitores da FC publicada nas editoras emergentes (Presença, Saída de Emergência, Gailivro, Livros de Areia, Chimpanzé Intelectual/E’scritório, etc..) que, ou abandonaram apenas as edições nacionais ou abandonaram o género.
Questão que o Nuno formula mas deixa sem responder, pois isso implicaria um esmiuçar, impossível por escassez de dados, sobre quem lê os bons livros de FC e que lê os outros, transpondo, como defendo, grande parte da responsabilidade desta situação para os leitores que temos (e que são produto dos nossos sucessivos sistemas educativo e político).
6)Continuando na sua senda de escamotear a realidade que todos nós percebemos quotidianamente por detrás de uma imaginada falta de números objectivos, o Nuno Fonseca formula uma falsa questão (“Há mesmo crise no negócio dos livros?”. Não, não há a menor crise no negócio dos livros, quando o próprio sector reclama um movimentação de quinhentos milhões de euros anuais, quando Grupos editoriais se constituem em Portugal como se nós fôssemos um país de literatos e de autores com grande projecção internacional; Há, isso sim, crise em alguns sectores do livro e em alguns géneros literários, como a FC), que serve apenas como pretexto para defender o gigante Leya, a coberto da observação de que na raiz do problema poderá estar o facto de “que quem tem meios para editar FC com sucesso e lucro” ser “quem não o faz”.
A posição é relevante – diria mesmo, determinante - mas o contexto é atabalhoado. Escreve Fonseca: “Certo certo é que, em termos de Fantástico, temos de recordar que a Gailivro não é a Leya, apesar de lhe pertencer; a Gailivro não determina a estratégia económica do grupo, pelo que o poder decisório quanto ao publicar não é igual.” Ora, antes de mais, há que decidir: ou a Gailivro é a LeYa ou não é a LeYa; num ou noutro caso, se tem ou não poder decisório, e em que termos.
Antes de mais, parece-me importante separar a questão da Gailivro-LeYa, da questão mais geral, tanto mais que nem compreendo porque razão o Nuno resolve individualizar essa editora. É minha opinião que a mais recente política editorial da Gailivro tem sido a mais danosa para o panorama do Fantástico nacional, e não apenas da FC. Precisamente, pelas razões que o Nuno aponta. Neste momento, nenhuma editora nacional teria melhores condições para relançar um Fantástico de qualidade, sem, no entanto, mostrar sinais de o querer fazer. O Nuno fala do marketing e das capas que escamoteiam a identidade da FC, mas o primeiro livro de FC da Gailivro publicado em 2010, escolhe para a capa uma iconografia de zombies, na linha da aposta editorial que eu referi num post anterior. Mas esta questão LeYa é completamente alheia ao que vimos discutindo, pois a política editorial seguida pela Gailivro não apresenta alterações significativas face àquela que seguia antes da aquisição pelo Grupo.
Mais importante, ainda que empiricamente e porventura seguindo uma filosofia “em cima do joelho”, seria colocar a seguinte questão: Porque não aposta a Gailivro na boa FC? Porque razão, tendo a Presença estreado a sua colecção Viajantes no Tempo com livros de FC destinados a adultos e de qualidade (Stephensom, Asher, Dick) depressa a transformou numa colecção juvenil? Porque razão desistiu da publicação do CARBONO ALTERADO, que viria depois a ser publicado pela SdE, com resultados bem distantes dos obtidos na língua original? Falta de promoção? Falta de marketing? Quer a Presença quer a Saída de Emergência (entendá-mo-las, neste cenário de mega-grupos literários como pequenas ou médias editoras) têm uma exposição pública nvejável. As principais livrarias têm os seus livros nas montras e nos expositores? Que as leva então a tomar estas decisões, senão as ridículas vendas da FC?
O Nuno equaciona de seguida os Grupos como a LeYa com as cadeias como a FNAC. Aí está redondamente enganado. Se é certo que grupos como a FNAC, com as condições que impõem para a fixação de um preço inferior ao da venda em livrarias normais, pode levar a um encarecimento dos livros (pois as editoras procurarão manter a sua margem de lucro), não é menos certo que, pelo menos a FNAC, é muito mais receptiva à venda de edições de pequenas e médias editoras, e mesmo da literatura de FC, do que as distribuidoras e livrarias convencionais.
7) Igualmente escamoteadora da realidade é a questão da pescadinha de rabo na boca que o Nuno estabelece entre o “não se publica por não se vende, não se vende porque não se publica”, e escamoteadora porque parte do princípio de um novum, em contradição com o que defendeu em um. Ou seja, e como já antes tive oportunidade de observar ao Nuno, num outro post, a questão não é porque razão a FC não vende, mas sim porque razão a FC deixou de vender. É um fenómeno conexo e paralelo à de perguntar porque razão a Fantasia começou a vender tanto. Há certamente pontos de contacto entre ambas as questões, mas a resposta de uma nunca será suficiente para esclarecer a outra.
É que, apesar de tudo, e por muito mercantilistas que sejam, as editoras e os grupos editoriais não são insensíveis às pressões da procura. E eu, que sou insuspeito nessa matéria, não sinto a mais pequena pressão de procura da FC. Daí que eu não censure, por exemplo a Gailivro por não publicar FC; censuro a Gailivro por contribuir conscientemente para tornar impossível no curto-médio prazo avitalidade da FC e do Fantástico em geral, ao substituí-los paulatinamente por derivados que apresenta como tal. No que não está sozinha.
8) Por fim, iluminado por um fulgurante pensamento politicamente correcto, o Nuno aborda duas questões importantes – a da influência dos leitores de sexo feminino, e o do cinema de FC – escudando-se numa suposta falta de estudos e números objectivos, ignorando, porventura, que esses números existem lá fora, e que ambas as questões têm sido estudadas de forma pertinente e conexa pelo menos desde há trinta anos para cá, quando o surgimento dos primeiros fenómenos televisivos na área da FC, como o
Star Trek (1966-1969) nos Estados Unidos e o
Doctor Who (1963-1995) e sucessivas reencarnações, permitiram perceber uma alteração na demografia e na distribuição das audiências, sobretudo através da quase predominância de mulheres no universo de fanzines e fan-fiction da série Star Trek, motivada mais pela “sedução” do Sr. Spock do que do capitão Kirk. No entanto, este súbito crescimento da base feminina de fãs da FC, acompanhando os movimentos feministas e de empowerment das mulheres que nessa altura começavam a emergir, não era idêntico ao da tradicional base masculina da FC da Golden Age e dos anos cinquenta. Referindo-se, por exemplo, ao aspecto utópico da série
Star Trek, Henry Jenkins (in
Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, 1992) escreve: “
female fans of Star Trek have, in fan magazines, gone further into the utopian than the text itself, transforming Spock himself and the series ‘into women’s culture, shifting it from science fiction into romance, bringing to the surface the unwritten feminine “countertext”, and forcing it “to respond to their needs and to gratify their desires. These female fanzine writers, thus, re-position the play of generic ambiguities and contradictions that Cranny-Francis talks about, but in this case outside
the televised text” (o bold é meu, o itálico é do autor).
Analisando o mesmo fenómeno, o aumento significativo da demografia do público-alvo da FC no pós guerra, e aceitando a posição de Gerald Klein de que a FC adoptou uma via pessimista nos anos 50, assim a distinguindo da via optimista dos anos de Campbell, Adrian Mellor [in ‘
Science Fiction and the Crisis of the Educated Middle Class’, in C.Pawling, (Ed.),
Popular Fiction and Social Change (London: Macmillan, 1984), p. 39] comenta que “
Our thesis must be that science fiction remained culturally marginalised for just as long as it continued to embrace science and technology, and to view the future with optimism. To the extent that it abandoned this world view, embracing instead the values of pessimism and tragic despair, so it was in turn embraced by the ‘dominated fraction’ of the dominant class. For the ‘tragic vision’ whose origins can clearly be discerned in SF from the 1950s onwards, is itself expressive of core values of the educated middle class. Mainstream culture’s new interest in SF, the vast growth of college science fiction courses in the United States, the advance of certain SF texts to the status of cult objects within the (middle-class) hippie counter-culture all this becomes explicable as a meeting of ideological minds. It is not the educated middle class that has changed, it is science fiction. The retreat into pessimism and cosmic despair is viewed by the dominated fraction of capitalism’s dominant class as a maturation, a welcome end to the isolation forced upon a subculture by virtue of its faith in the future.”
Uma constatação que levou Teresa Ebert a distinguir três formas de FC em razão dos seus respectivos receptores e consumidores: a FC mimética (a que também se referia como “literária” e que empregaria ‘
mimetic conventions of the bourgeois novel with its preoccupations with sociopsychological realism and its commitment to a causal interpretation of the universe’), Meta-FC (‘
a self-reflexive discourse acutely aware of its own aesthetic status and artificiality’) e o parente pobre a Para-FC. Se da primeira dava como exemplo o
STRANGER IN A STRANGE LAND do Heinlein e do segundo o
DAHLGREN do Delaney, o exemplo escolhido da terceira era a série
STAR TREK, o único exemplo desta nova forma de recepção de FC. Da Para-FC escrevia ela “
Para science fiction is a type of writing which is energised by the sudden popularity of science fiction among a new class of readers… an adaptation and updating of the old-fashioned space opera type of science fiction for the tastes of middle class consumers whose passion for gadgets is inexhaustible…. This type of science fiction has the tendency to leave the literary altogether and move into TV serials, films and comic strips.” (in ‘
The Convergence of Postmodern Innovative Fiction and Science Fiction’,
Poetics Today, 1:4, 1980, p. 92.).
Pese embora o meu desagrado por algumas das considerações da autora, é relevante a associação que desde sempre se estabeleceu entre o surgimento da FC televisual e o aumento da demografia de espectadores de ambos os sexos ao afastamento da FC escrita e das suas naturais características. Quando em 1982, William Sims Bainbridge da Universidade de Harvard publicou os resultados do primeiro estudo científico do reflexo da composição das audiências do género sobre a sua percepção, elaborado no decurso da 36º WorldCon, as conclusões (conforme sumariadas) foram: “
Science fiction has become an important medium of communication for new ideas and values concerning sex roles, and the influx of women into this previously male literary subculture is a change of significance for popular culture. This article uses the first large well-collected body of social science survey data to examine the ideological orientations of women readers and authors. None of the leading women authors write the traditional Hard-Science variety of science fiction that explores innovations in physicial science and technology, and there is a slight tendency for women readers to prefer this type less than men do. Women authors tend to write either Sword-and-Sorcery, a variety of heroic fantasy, or New-Wave science fiction, a politically liberal and stylistically progressive form. Many of the women authors use their fiction as a medium for advocating social change from a feminist perspective. Science fiction has become a forum for women authors' uninhibited public analysis of contemporary sex roles and consideration of options for the future.” (in
Sex Roles, Vol. 8, No. 10, 1982).
Dados mais completos e uma história mais detalhada podem ser encontrados, por exemplo, em
Science Fiction Audiences – Watching Doctor Who and Star Trek (2005) de John Tulloch e Henry Jenkins, que me foi de extrema utilidade para localizar a bibliografia citada neste texto.
Até que ponto estes estudos podem ser transpostos para a realidade portuguesa actual pode, e deve, naturalmente, ser debatida, mas não permite de forma alguma o subterfúgio de que houve uma transmutação da comunidade de leitores para a comunidade de telespectadores ou consumidores de espectáculos cinematográficos. Não só porque a literatura coexiste com eles desde os anos 50 (no caso do cinema) e dos anos 60 (no caso da TV), como porque cinema e televisão apresentam um discurso completamente distinto do da FC escrita, com raros e pontuais casos de sintonia entre ambos. Não tenciono menosprezar o cinema e a televisão de FC (que muito aprecio e de que sou consumidor habitual), mas isso não permite negar a predominância do espectáculo visual nesses meios em detrimento do conteúdo. Nessas circunstâncias, a literatura continua a ser a forma predominante da FC. E é essa que está manifestamente em crise em Portugal.