
Em meados dos anos 90, THE X-FILES dominava o panorama televisivo. Mesmo para quem não acompanhava a série, transmitida em Portugal pela TVI, a sua presença era sobrepujante, invadindo os intervalos publicitários, as capas das revistas, as conversas de café. O tema assombroso de Mark Snow era uma banda sonora omnipresente. E a imanente estupidez do empreendimento começava a contagiar a mundividência de muitos dos seus espectadores, que iam paulatinamente tornando-se consumidores acríticos de todo o tipo de teorias de conspiração.
Pela minha parte, nunca fui entusiasta da série, apesar dos elevados valores de produção, cenários deslumbrantes (sobretudo quando o pano de fundo eram as magníficas florestas canadianas) e ocasionais rasgos de criatividade nas narrativas. Para mim, eram essencialmente duas coisas que militavam fortemente em desfavor da série: por um lado, o metatexto cultural – o mesmo é dizer, o posicionamento voluntário do lado do irracional. Não podemos esquecer-nos de que THE X-FILES foi, entre 1993 e 2002, a jóia da coroa da programação da FOX, estação de televisão criada em 1986 por Rupert Murdoch, que construiu uma colossal fortuna prostituindo os meios jornalísticos ao serviço da divulgação de fenómenos pseudo-científicos, superstições, horóscopos e outras histórias de milagres (mais ou menos a mesma receita da série); Por outro lado, nunca logrei compatibilizar-me com Gillian Anderson, cuja incapacidade enquanto actriz se alia a um desencanto físico que me impede de compreender todo o culto de sex-symbol que se gerou em torno dela.

Já para não falar da interpretação seca e unidimensional do Fox Mulder de David Duchovny, década e meia antes do cativante Hank Moody que construiu para CALIFORNICATION (2007-presente). Talvez a sua prestação procurasse traduzir a alienação do próprio personagem, incapaz de integrar-se na orgânica cínica e politizada do FBI, marcado pelo evento traumático da abdução da irmã por alienígenas, e o seu afastamento para as periferias desenfranchisadas das teorias de conspiração (os Lone Gunmen), mas se essa era a ambição, ela é desmentida pela incapacidade de Mulder expressar qualquer emoção mais profunda, como se viu quando lhe foi pedido que quebrasse emocionalmente e chorasse em “One Breath” (s02e08, 1994), provavelmente o pior episódio da série.

Acresce que a dinâmica entre os dois personagens principais, o crente Mulder e a (supostamente) céptica Scully, arrasta-se, por via do pendor pseudo-científico e paranormal da série, muito para além de qualquer credibilidade, fazendo com que Scully, mais do que céptica, pareça essencialmente burra, por não ver a evidência que os próprios espectadores viram, uma e outra vez.

Assim sendo, e no que me diz respeito, foi preciso esperar pelo episódio “Blood” (s02e03), realizado pelo veterano da série David Nutter, com base numa história de Darin Morgan (argumento de Glen Morgan e James Wong) para encontrar algo de minimamente satisfatório. Dadas as reticências expostas supra, talvez não seja de admirar que este episódio assente essencialmente na personagem Edward Funsch, interpretada pelo inconfundível William Sanderson (celebrizado pelo seu desempenho como J.F. Sebastian em BLADE RUNNER e recentemente regressado aos ecrãs televisivos em TRUE BLOOD), que relega Mulder e Scully para um papel de meros figurantes, fazendo suas todas as cenas em que aparece e obrigando o telespectador a aguardar ansioso pelo seu regresso nas restantes.

Funsch é um funcionário postal em Franklin, no estado da Pennsylvania, que acaba de receber a sua nota de despedimento. O patrão, pouco à vontade, entrega-lhe o resultado de uma mísera colecta efectuada entre os colegas de trabalho, ao mesmo tempo que lhe pede que se mantenha no seu posto de trabalho até ao final da semana, o que não deixa de ser um curioso comentário sobre a “nova economia” que Clinton começava a pregar em terras do tio Sam (observe-se que o episódio em questão data de momento anterior à politização, à direita, da Fox). Funsch tinha acabado de cortar-se num envelope encravado numa correia de distribuição e, aparentemente na sequência desse corte, após ter ficado como que petrificado pela visão da gota de sangue na ponta do dedo, vê a instrução “kill… kill’em… kill’em all” no mostrador electrónico do aparelho.

O seu, porém, não é um caso isolado: no Centro Cívico, um homem mata aqueles que com ele viajam no elevador quando o indicador luminoso o adverte de que está a ficar sem ar; uma dona de casa mata violentamente um mecânico quando o aparelho de diagnóstico do motor a informa de que ele a tenciona violar. E, ao que parece, casos semelhantes têm-se multiplicado nas últimas semanas, o que leva Mulder a desconfiar da acção de um ou mais spree killers, ideia prontamente afastada quando é inesperadamente atacado por Bonnie McRoberts (Ashlyn Gere), a dona de casa assassina, que o xerife se vê forçado a abater. A autópsia levada a cabo por Scully revela a presença de níveis elevados de adrenalina, sinais fisiológicos de medo intenso e de resíduos de uma substância desconhecida, comum a todos os casos, e que poderá causar um efeito semelhante ao LSD. Uma visita aos Lone Gunmen, após Mulder ter visto um funcionário da Câmara a despejar uma pazada de moscas mortas nos canteiros locais, permite rapidamente identificar essa substância como sendo o LSDm, produto de um programa experimental de controlo de parasitas da agricultura. Tal substância, interagindo com as fobias de alguns dos habitantes, está na génese dos episódios de violência. Uma improvisada campanha de análise sanguínea permite identificar os potenciais infectados, mas tem o efeito de lançar Funsch, um hematófobo, no seu próprio delírio homicida, que encontra a sua frustre apoteose no alto da torre do relógio de um campus universitário.

O argumento, prenhe de linhas narrativas convergentes, oferece a oportunidade para brilhantes apontamentos visuais e culturais: quando encontramos pela primeira vez os Lone Gunmen (na sua segunda aparição na série) eles espreitam directamente para a câmara através de uma gigantesca lupa, subjectivando o espectador como objecto de observação, num curioso comentário que é tão válido quanto ao omnipresente governo, quanto ao escrutínio (tantas vezes ilegal) dos próprios teóricos da conspiração. A construção da cena de Bonnie na oficina mecânica segue quase religiosamente as regras visuais e narrativas de um filme de horror; a iluminação, o posicionamento dos personagens, o potencial duplo sentido que o ambiente ameaçador e a paranóia pessoal emprestam às informações prestadas pelo mecânico, convencem realmente o espectador (tanto quanto Bonnie) de que ela pode estar prestes a ser violada. E o casting de Ashlyn Gere, uma actriz porno ainda no activo, é uma escolha inspirada para comentar a paranóia anti-rape e anti-porn (quando não mesmo, anti-sexo) das principais feministas de terceira vaga, então muito em voga, como Catherine McKinnon e Andrea Dvorkin.

E há ainda um momento que procura definir a relação intelectual entre Mulder e Scully que funciona particularmente bem enquanto gerador de credibilidade diegética. Em Quantico, Scully lê o relatório de Mulder, onde este exaustivamente descreve todas as informações obtidas e confessa não dispor de qualquer pista. A certo passo refere “There have been reported abductee paranoia in UFO mass-abduction cases”, o que arranca a Scully o comentário “I was wondering when you’d get to that”, mas apenas para Mulder completer, desanimado, “I find no evidence of this to be the case”, o que de facto relega o mistério para o campo mais prosaico, e satisfatório, de uma explicação materialista, ao mesmo tempo que levanta o manto de maluquinho dos OVNI que podia asfixiar a personagem de Duchovni.


Infelizmente, nem tudo no episódio se mostra à altura destes momentos. E um dos problemas que me provoca mais urticária é precisamente o papel narrativo dos Lone Gunmen. É a eles que Mulder recorre quando se depara com as moscas que os funcionários camarários despejam pelos canteiros municipais (com objectivos nunca esclarecidos), no entanto as informações que estes lhe dão sobre a aparente causa de morte das moscas e a substância envolvida, não são de molde a permitir-nos supor que Scully não fosse igualmente capaz de as obter. Porquê, então, recorrer ao trio de cromos? Para além de uma troca de elogios múltiplos entre eles e Mulder (do qual a credibilidade de Mulder volta a ser diminuída depois do inteligente momento referido acima), a única coisa que os Gunmen aportam ao episódio é a exibição de uma cassete VHS com imagens de várias pessoas, incluindo crianças, a serem aspergidas com DDT em experiências governamentais nos anos 1950s. Tal facto não releva em nada para a diegese: se Mulder acredita no que eles lhe dizem, era desnecessário exibir-lhe as imagens; por outro lado, tais imagens não são secretas, nem tão pouco as experiências o foram, sendo pensadas para contrapor às teses de alguns cientistas que ainda nos anos 50 do século passado defendiam que o DDT seria tóxico para os seres humanos; por outro lado, na própria diegese, logo que confrontados com as informações, os responsáveis locais pelas aspersões não negam os factos, deslocando o argumento de uma linha conspirativa para uma idêntica à que Spielberg explorara em JAWS (1975), ie, a aspersão visa impedir a ruína da agricultura local, sendo os ímpetos homicidas um efeito secundário inesperado, cuja correlação se nega. Não obstante, os mesmos responsáveis concordam em suspender as aspersões e em efectuar o levantamento dos afectados por via das hemoanálises porta a porta. Assim sendo, o papel dos Lone Gunmen é, unicamente, extra-diegético: é convencer os espectadores, através de uma apresentação selectiva e enganosa dos factos, da realidade das teorias da conspiração. Não da particular conspiração do episódio em causa que, como vimos, nem sequer existe, mas das teorias de conspiração tout-court. E, nesse aspecto, é tão estúpido quanto pernicioso.
“Blood”, porém, muda de tom (e de registo) quando a atenção se volta para Edward Funsch. Nele a paranóia é quase justificada, e o argumento fecha-se à sua volta como uma mortalha de coincidências fatais. Na verdade, é como se “Blood” sofresse se esquizofrenia narrativa, uma colagem desastrada de duas realidades diferentes num todo narrativo não totalmente harmonioso. A história de Funsch é um regresso aos excelentes thrillers paranóicos dos anos 70, a matriz cultural de onde nasceu esta THE X-FILES, aquilo que a série gostaria de ser mas de que não consegue mais do que uma pálida imitação. A sensação com que se fica é idêntica à que teríamos perante o enxerto de uma novela de Philip K. Dick entre as páginas de um livro de Dan Brown.

Isso é particularmente notório no tratamento diferenciado que a sua fobia recebe quando comparada com as demais. Se o executivo no elevador é levado a extremos homicidas pela sua claustrofobia e sensação de falta de ar, e a dona de casa reage de forma violenta perante um cenário e um ambiente que lhe gritam “violação!” aos ouvidos do inconsciente, a reacção de Funsch é tudo menos lógica, se é que podemos referir-nos à lógica perante comportamentos fóbicos irracionais. Atente-se, porém, que as mensagens que os diversos aparelhos electrónicos vão transmitindo aos afectados, podem sempre ser interpretados à luz de uma alucinação subjectiva como resposta adequada a um específico contexto de stress. Mesmo quando Mulder é directamente afectado pelo LSDm, recebe mensagens que o espectador tem por lógicas no contexto da obsessão do agente por fenómenos inexplicados e por alienígenas omnipresentes. O mesmo se passa com Funsch, quando o aparelho de controlo de entradas no autocarro lhe diz que “They’re wating for you. Get out. Get out, now!”, ou quando o micro-ondas de Bonnie a informa “He knows!”, antes de ela atacar Mulder. São, uma e outra, suposições normais de quem tem algo a esconder ou se prepara para levar a cabo algo reprovável, exacerbadas pela paranóia activada pelos químicos. Mas que razão levaria um hematófobo como Funsch, ao invés de reagir instantaneamente perante a visão de sangue, a optar por munir-se de uma carabina e perpetrar um massacre semelhante ao que Charles Whitman tinha levado a cabo em semelhantes circunstâncias na Torre da Universidade do Texas em 01 de Agosto de 1966? Como Mulder lhe diz quando o confronta no interior da torre, se ele atingir as pessoas, vai haver sangue… muito sangue.


A verdade, parece-me, é que Funsch, por assim dizer, não pertence a este filme. É uma personagem que transcende as limitações estruturais do formato televisivo e mereceria, talvez, o tratamento mais alargado de uma longa-metragem (correndo, porém, o risco de perder na comparação, por exemplo, com o interessantíssimo TARGETS de Peter Bogdanovich). Funsch é claramente um homem metódico, habituado a uma vida ordeira e ordenada, cujo ritmo é marcado pela máquina de etiquetagem que opera. A forma como insere os códigos postais através do teclado ajuda a realçar esse facto: a sua vida é feita de coordenadas, sem grandes desvios ou sobressaltos. O seu mundo começa a ruir precisamente quando uma carta fica encravada e ele corta um dedo ao tentar soltá-la. A gota se sangue que brota da epiderme ferida é um sinal da desordem entrópica que subitamente domina a sua vida. E que a domina literalmente. Não é de surpreender que ele, que leva uma vida mecânica, receba ordens (Kill… kill’em all...) da máquina que alimentou de informação até ser despedido. Aliás, não é despiciendo que sejam apenas os mostradores electrónicos, LED ou LCD que transmitam as ordens (tratando-se de alucinações, estas poderiam consistir no rearranjo das letras nos títulos dos jornais ou dos nomes das ruas) a todos os afectados. As máquinas, pensadas para facilitar o trabalho, são afinal um inimigo oculto, controlando os seus operadores, um cliché tão sixties e seventies que quase passa desapercebido. E todo o nosso mundo é controlado por máquinas e aplicações mecânicas ou electrónicas: são os computadores que fazem os diagnósticos mecânicos dos motores dos automóveis, os microondas que nos preparam as refeições, os terminais multibanco que nos enchem os bolsos. E, sobretudo, as televisões que nos formatam os padrões de comportamento, como nesse momento memorável em que uma parede de ecrãs repete constantemente as imagens de Charles Manson, Waco, e do espancamento de Rodney King num caleidoscópio da cultura pop do infotainment. É uma imagem da nossa cultura, da cultura Americana, da cultura do século XX, o século das máquinas e do estado social. Kill… kill’em all…

A imagem de Funsch diante dos ecrãs de televisão é a imagem de alguém que perdeu completamente o controlo da sua vida, alguém incapaz de compreender e abarcar a voracidade do mundo, filtrado pelas cadeias de televisão que o convidam a resolver os seus problemas através da aquisição de uma arma, esse grande equalizador universal. Mas nem uma arma nos pode ajudar quando o próprio universo está contra nós e, num momento inspirado (que quando visto pela primeira vez me pareceu demasiado forçado), logo que Funsch vê na televisão a notícia de que vai começar a processar-se a campanha de análise de sangue, a campainha da sua porta de casa faz-se ouvir de imediato, insistente (há quem diga que ditando a ordem kill kill kill em morse), como que querendo dizer-lhe que é o próprio universo que o tem debaixo de olho, que o impele a agir.


Não admira, por isso, que se refugie no interior de uma torre de relógio, cujo funcionamento necessariamente preciso promete a reposição da ordem perdida. A construção do conflito final, que é sobretudo um conflito interior, magistralmente traduzido pela interpretação de William Sanderson, é lamentavelmente desarmada pelo anti-clímax final, pouco inspirado e previsível, agravado pelo apontamento vácuo da última mensagem alucinatória que Mulder recebe no mostrador do seu telemóvel, (presumimos) com o dissipar dos últimos efeitos do químico, “All done, bye bye”, que não é mais do que um piscar de olho às expectativas de uma audiência que, em inícios dos anos 90, estava formatada para exigir sempre um twist final. É, ao fim e ao cabo, um final que encapsula a essência da série…








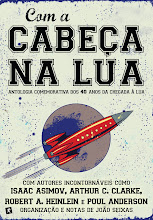










































2 comentários:
Comecei, algo recentemente, a adquirir as várias temporadas da série e a ver os episódios em jeito de maratona esporádica pelas noites dentro. Falando dos actores, devo dizer que as supostas limitações de desempenho funcionam em vantagem da dupla, especialmente no Mulder de Duchovny (tem um ar algo distante, um hippie num mundo yuppie, com um tom algo monótono). Quanto a Dana Scully, encaixa bem no papel da céptica/mulher de gelo. A parte da "ruiva burra", apesar de perceber a intenção, só peca por ser distendida a um limite algo insuportável, mesmo invertendo a dinâmica com a entrada em cena do agente John Dogget a partir da 8ª temporada. Creio que até poderia ter servido um bom subplot, mostrando o conflito de alguém (Scully) cujas "crenças" racionalistas são postas à prova. Talvez seja o medo, que se procura apaziguar tanto pela religião como pela ciência, da inconsequência do mundo que a torna numa céptica algo imbecil.
O que é certo é que a série foi vítima do seu próprio sucesso e estendida por 9 anos só poderia terminar em exaustão. A narrativa principal que cola tematicamente a série teve demasiados desenvolvimentos (para lá do suposto pelos criadores, pelo que já li por aí) que acabou por tornar-se num novelo demasiado emaranhado que nem o final ajudou a descomplicar. Mesmo assim fica na memória da boa televisão.
...traigo
sangre
de
la
tarde
herida
en
la
mano
y
una
vela
de
mi
corazón
para
invitarte
y
darte
este
alma
que
viene
para
compartir
contigo
tu
bello
blog
con
un
ramillete
de
oro
y
claveles
dentro...
desde mis
HORAS ROTAS
Y AULA DE PAZ
COMPARTIENDO ILUSION
BLADE RUNNER
CON saludos de la luna al
reflejarse en el mar de la
poesía...
ESPERO SEAN DE VUESTRO AGRADO EL POST POETIZADO DE MONOCULO NOMBRE DE LA ROSA, ALBATROS GLADIATOR, ACEBO CUMBRES BORRASCOSAS, ENEMIGO A LAS PUERTAS, CACHORRO, FANTASMA DE LA OPERA, BLADE RUNNER ,CHOCOLATE Y CREPUSCULO 1 Y2.
José
Ramón...
Enviar um comentário