
Random House Books for Young Readers, 2008
448 pgs.
ISBN-10: 0375838759
ISBN-13: 978-0375838750
Em Malonia, mundo “paralelo” ao nosso, com o qual se toca em certos e determinados pontos, corre a lenda de que o infante, príncipe deposto, se encontra exilado na mítica Inglaterra, juntamente com Aldebaran, um poderoso mago. A narrativa desenrola-se, sem grandes surpresas, nesses dois espaços paralelos, onde acompanhamos Arthur Field (Aldebaran), Ryan (o príncipe) e Anne (uma jovem inglesa, também oriunda de Malonia) na Inglaterra, e Leo, Stirling e Maria em Malonia. A guerra na fronteira com Alcyria está a correr de mal a pior, e são cada vez mais as vozes que recordam a profecia de Aldebaran, de que o príncipe herdeiro regressaria em tempo de crise para reclamar a coroa do malévolo Lucien. No entanto, é a morte de Stirling, vítima de uma estirpe mortal da Silent Fever que vai provocar a desagregação de Leo, da sua vida e, por reflexo, do próprio Reino.
Um livro – qualquer livro – é sempre um “portal”, uma entrada para uma realidade, mais ou menos distante, da envolvente do leitor que abre as suas páginas. E tal foi desde cedo intuído pelos mais variados autores, com especial destaque para o primeiro romance moderno, o D. Quixote de Cervantes, que explorava (e censurava) o carácter escapista – de portal – dos folhetins de cavalaria que o seu protagonista soía devorar. E, como não podia deixar de ser, os livros desempenham um papel recorrente na literatura de género, seja como títulos imaginários (o Necronomicon de Lovecraft), simbólicos (o Livro de Areia de Borges) ou de portais literais para outros mundos (Neverending Story de Michael Ende).
Este “THE EYES OF A KING” abre com a descoberta de um livro perdido na neve das Ruas de Malonia: um livro em branco que, à semelhança do diário de Folliot, no Philip José Farmer’s The Dungeon (6 vols, vários autores) se vai auto-escrevendo, como uma espécie de lousa psico-sensível, onde mão desconhecida deposita as palavras que vão servir de motor à narrativa. Ora, este livro dentro do livro – que é ainda um livro dentro de um outro livro (o livro que o narrador/autora nos diz ter começado a escrever aos quinze anos: I finished the story today. It has taken me five years. I am twenty now.), serve ao mesmo tempo de fio condutor e de fio de terra, orientando a narrativa, mas causando por fim a descarga no coração inerte do solo, onde se perde, inútil e estéril. Mas expliquemos a curiosa dualidade desta obra. A narrativa desenrola-se paralelamente em dois planos espaciais e temporais distintos: por um lado, temos a dicotomia espacial Malonia/Inglaterra; por outro, o tempo narrativo, no pretérito, que se encaixa no tempo do narrador – o presente da história – que nos conta aquilo que aconteceu.
E o livro abre-se numa época indistinta – e é interessante observar como o tempo nunca se define inteiramente (o tempo de Malonia é-nos indiferente; como terra de fantasia, vive por um relógio de fantasia), negando-se a narrativa a descobrir qualquer pista que nos permita ancorar a cronologia. Sabemos apenas que a Primeira Grande Guerra já se deu, pois Raymond tem um tanque de guerra no quintal, mas no demais todas as referências são suficientemente indistintas para poderem caber em qualquer momento do século XX: as personagens não se servem de telemóveis, nem de rádios, nem de computadores. Lêem jornais cujo conteúdo não nos é transmitido, viajam de automóvel e de autocarro, mas o mapa cultural mantém-se uma extensa planície sem relevos ou picos de referência. O que serve perfeitamente os interesses da história que a autora nos quer contar; interesses que, de momento, manteremos à margem da análise.
Começamos, portanto, numa época indistinta. Num local desconhecido, que o narrador não tardará a identificar como Malonia. Há guerra. Os soldados deslocam-se a cavalo pelas ruas. Informações que nos são dadas de forma parcimoniosa, semeadas aqui e ali, no texto. A porta do quarto precisa de dobradiças. “But it was hard to get hinges these days, when all that was made was bullets.” E existe magia. Quando o narrador – que nós ainda não sabemos tratar-se de Leo – encontra o livro na neve, pretende abri-lo com um gesto dos dedos e força da vontade. “Although it was only a cheap trick; no more. It did not even work on the Bible”. Há censura: um dos livros do pai do narrador, “The Golden Reign” é de leitura proibida. E a Inglaterra é um país lendário para onde se diz terem ido as pessoas que desaparecem e os exilados políticos.
Um breve capítulo introdutório é o suficiente para situar o leitor num universo de fantasia, um universo com magia, um tirano cruel, e um pano de fundo bélico. Para situar o leitor num conjunto de expectativas de género, onde tropos favoritos são uma vez mais dispostos sobre o tabuleiro de jogo, à espera que a autora subverta as regras em movimentos arrojados. Verdade se diga, não são raras as obras que exploram o conceito de universos paralelos. A science fantasy dos anos 30 assentava quase essencialmente no quebrar de barreiras entre mundos… concretamente entre o nosso mundo e o outro, o da fantasia. John Carter é transportado para o Marte de Burroughs tal como inúmeros outros viajantes o fariam nos pastiches de Lin Carter, Michael Moorcock ou Philip José Farmer. Mas são mais raros aqueles viajantes que se deslocam de um outro universo para o nosso, sendo que a nossa realidade é que serve de escapismo ao universo de fantasia.
Uma diferença fulcral, que não se pode deixar passar em claro.
Porque nela se joga a chave da narrativa. Leo refere em certo ponto ter por vezes a sensação de uma fragilização (thinning) das barreiras entre as várias realidades, uma fragilização que, de acordo com John Clute, poderíamos descrever como “a diminuição de uma Terra saudável até não passar de uma paródia de si mesma”, um processo normalmente posto em marcha pelo Senhor Negro.
E, de facto, quando damos os primeiros passos nesta Terra, somos imediatamente tocados pela fragilidade das barreiras; mais, pela fragilidade do próprio mundo, enfraquecido muito para além de um pastiche de si próprio; a barreira entre universos tem a densidade de uma folha de musselina, corroída pelo toque etéreo da morte.
E a morte é presença que se anuncia desde cedo: a avó de Leo surge-nos, idosa, imersa nas sombras da luz da candeia, “her eybrows lowered, casting her eyes into shadow like a skeleton” (‘de sobrolho caído, mergulhando os olhos na sombra, como os de um esqueleto’). A referência ao esqueleto (invocando a idade avançada e a proximidade do decesso) é reforçada pelo primeiro texto constante do livro que Leo encontra na neve: estamos num hospital. Um homem chora, vendo um comboio que passa no exterior (transitoriedade, a vida como uma passagem), enquanto um pássaro canta sem que o consigam ouvir através do vidro (como a barreira invisível que se estende entre a vida e a morte). E não tarda que a morte estenda o seu toque a todo o texto, espraiando-se sobre ele como a sombra funesta de uma nuvem de tempestade. A tal ponto que o bloco central da narrativa (a desequilibrada e demasiado extensa Parte V) se cinge exclusivamente à pungente morte de Stirling (um momento de grande impacto dramático, e onde a autora joga habilmente com as expectativas do leitor).
E aqui reside o maior problema deste “THE EYES OF A KING”. Todos os tropos icónicos da Fantasia são postos de parte em favor deste cortejo fúnebre, desta danse macabre de dor e sofrimento, que afastam o texto da área do fantástico e o lançam (talvez inconscientemente) no domínio das Vidas de Santos, onde o exemplo da fé visa ensinar aos leitores a virtude do sofrimento e da redenção. E só sob este prisma consegue a narrativa funcionar de forma eficiente (se lermos Malonia como o Inferno, a Inglaterra como o Purgatório e reservarmos uma esperança – uma fé – de paraíso). Só assim é possível entender porque razão existe a Bíblia e o Cristianismo num universo paralelo onde as personagens motoras têm o nome de estrelas e constelações (Leo, Aldebaran), porque, em Malonia “as nomeamos mais tarde, e de cada vez que um astrónomo tentava encontrar um nome, algo se sugeria automaticamente. Absorvemos os vossos nomes para as estrelas, de forma imperfeita mas clara. E temos por isso um conjunto de nomes cuja razão desconhecemos. Júpiter e Vénus não têm sentido no nosso país” (p.199). Tal como explica o poder absoluto de que a Profecia usufrui em Malonia, a tal ponto de o próprio Ahira - o supremo tirano, o senhor de negro, a temer.
E o leitor emerge do texto emocionalmente exausto, com as paredes da alma a estremecerem sob o impacto sólido da catadupa de vidas malogradas que a Autora, de forma exímia e inclemente foi desfazendo perante os seus olhos. Como uma vingança. Uma revolta contra uma experiência pessoal sentida e que necessita exorcizar. Pois o exorcismo é outra forma de fechar barreiras, é outra forma de redenção, um processo de anular o “thinning” da realidade.
“You know – diz-nos Leo, diz-nos a autora – death is another world. You can not trust the words people use, sometimes” (p.12).
“THE EYES OF A KING” (referência aos olhos de um azul límpido da linhagem governante de Malonia) não é propriamente uma obra de Fantasia; melhor dizendo, os elementos do fantástico nela presentes são meros adereços decorativos, cuja função a autora vai alterando discricionariamente ao sabor das conveniências narrativas (o livro que se auto-escreve tanto é um instrumento de comunicação, como essa mesma comunicação é efectuada por meio dos sonhos, que depois o receptor, sonâmbulo, escreve no livro; o grande poder mágico contido no amuleto de Anne não permite mais do que viajar entre mundos, coisa que Aldebaran consegue fazer sem ele, etc…). O mesmo é dizer, as várias interrogações que o leitor vai colocando ao texto são respondidas com um encolher de ombros autoral. No entanto, se o livro não funciona como uma (boa) obra de Fantasia, a sua dimensão de catarse e de alegoria fazem com que não seja um texto completamente despiciendo, embora o pendor assumidamente prosélito do cristianismo – não obstante a defesa das mães solteiras e a ponderação do suicídio – torne a narrativa algo mais simplista do que poderia ser.
O que, porém, não lhe pode ser negado, é a sua extrema honestidade, pese embora a juventude da autora a impeça de balancear mais equilibradamente os dois pratos da balança retórica. No entanto, enquanto assistimos ao derrubar de barreiras, ao enfraquecer da realidade, à desintegração do narrador que nos sussurra, mais do que nos narra (um sussurro cúmplice no início, um sussurro exausto – emocionalmente exausto – no final) os acontecimento, somos atirados de uma para outra perspectiva, abraçamos as posições de uma e outra personagem – e atente-se que C. Banner trata com igual generosidade todas as suas personagens – e vamos acumulando um crescente respeito pela mestria da jovem autora.
Uma breve nota sobre o texto: como observamos já supra, recebemos a informação de que a autora (que é, sem dúvida, a narradora), teria começado a escrever o texto aos quinze anos de idade; se tivermos em conta as naturais diferenças linguísticas entre o português e o inglês, não deixa de ser surpreendente a maturidade do estilo narrativo quando comparado com semelhantes exemplos nacionais (Inês Botelho, Filipe Faria, et.al.); embora se encontrem passagens que melhorariam com um polimento a nível de revisão (por ex. … the stream shone like liquid silver. The moonlight was streaming through that small valley (p.236)… onde os clichés de misturam com a ecolalia), há outros momentos – bastantes e recorrentes – em que a autora consegue harmonizar naturalmente as palavras e a emoção (quando o caixão do irmão vai aberto para o velório, Leo observa: “there was nothing between him and the stars” (p.146); quando imagina o seu futuro, sem família, o mesmo Leo pondera (pese embora a repetição desnecessária): “The future to me was nothing any more. Fifty or sixty more years without Stirling, and than without Grandmother either. There’s too much future’, I told her.” (p.232).
E o efeito cumulativo das imagens de morte é ao mesmo tempo belo e desgastante, arrastando o leitor numa torrente na qual não quer mergulhar, da qual não quer saber, mas à qual não consegue resistir. Em suma, um texto difícil para o público juvenil a que se destina, demasiado negro e desesperançado, eivado de um sofrimento profundo e inabalável, carente de algum polimento a nível estilístico mas, apesar de tudo, uma leitura recompensadora.
Nota: o presente texto baseou-se nas provas gráficas do livro, pelo que pode ter sofrido alterações quer quanto à numeração das páginas, quer quanto à correcção dos erros apontados a nível de escrita.








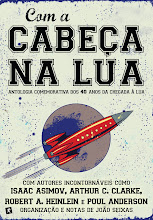










































Sem comentários:
Enviar um comentário